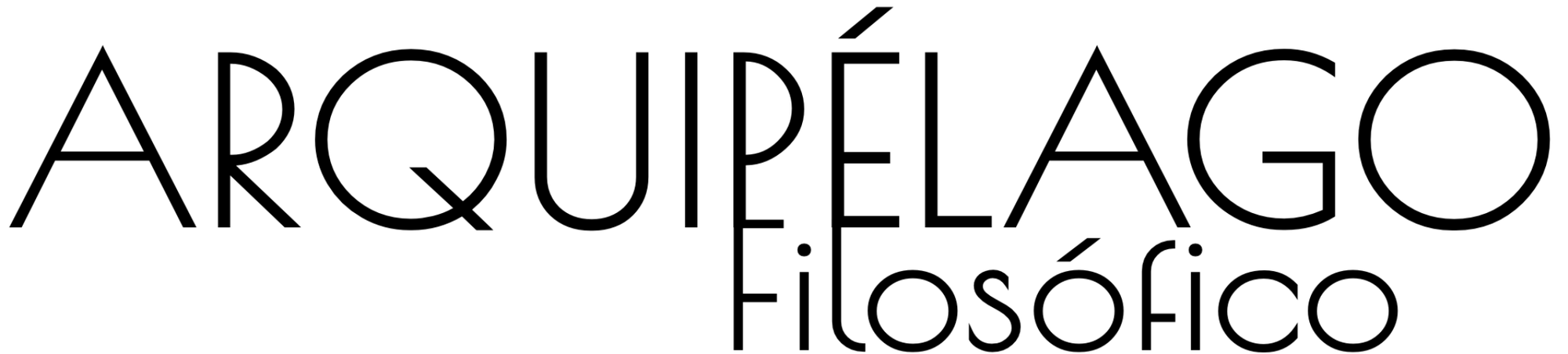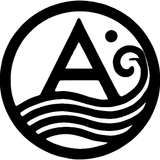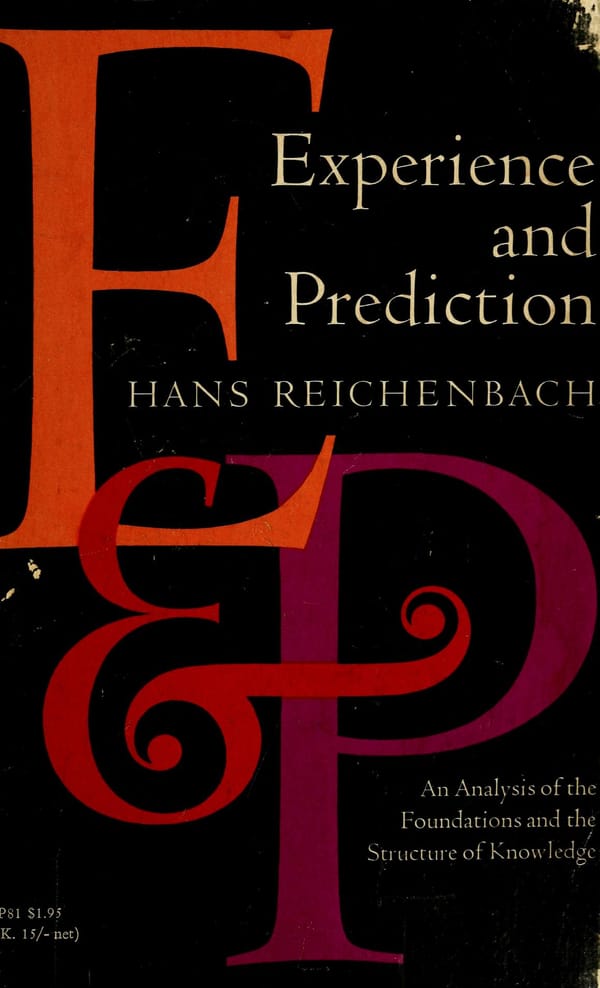W.V. Quine, Naturalismo; ou, viver dos próprios recursos

A tradução reproduzida a seguir é uma versão revisada da publicada na revista Cognitio 21 (2020): 350-361 (sob a licença Creative Commons com atribuição CC BY 4.0). O original, em inglês, foi publicado na revista Dialectica 49 (1995): 251-261, com o título “Naturalism; Or, Living Within One’s Means”.
Tradução e introdução por Guilherme Gräf Schüler (PUC-RS/UFRGS) e Rogério Passos Severo (UFRGS)
Nota introdutória a esta tradução
O artigo a seguir traduzido foi um dos últimos escritos por W. V. Quine. Logo após sua publicação, em 1995, parou de trabalhar, progressivamente incapacitado pela doença de Alzheimer. Faleceu aos 91 anos, no dia 25 de dezembro do ano 2000. Ao longo de suas mais de seis décadas de atividade, escreveu algumas das obras mais marcantes do século nas áreas de epistemologia, ontologia e filosofia da lógica. Quase todas as linhas de pesquisa em filosofia da segunda metade do século XX foram afetadas pelos seus escritos. Quine foi um filósofo para os filósofos. Redesenhou as fronteiras e perspectivas da própria disciplina, mas permaneceu pouco conhecido do público. No centro de seu pensamento está o que ele próprio passou a chamar, a partir do final da década de 1960, de “naturalismo”. Esse aspecto de sua filosofia foi se desenvolvendo e se tornando claro ao longo dos anos. A exposição do naturalismo contida no artigo é a mais explícita e direta que encontramos em toda sua obra.
Em Theories and things (1981, p. 72), Quine descreve o filósofo naturalista como: “[…] começando seu raciocínio a partir do interior da teoria do mundo que herdou […]. Acredita nela como um todo de modo cauteloso, mas também acredita que algumas de suas partes, ainda não identificadas, estão erradas. Tenta melhorar, esclarecer e compreender o sistema a partir de dentro. Ele é o marinheiro atarefado, à deriva no barco de Neurath”.
O naturalismo não é um mero lembrete para que em filosofia sejam levados em consideração os resultados científicos. Em vez disso, é a tese – bem mais radical – de que não há um modo distintamente filosófico de se investigar a realidade. Nessa concepção, a filosofia não é um empreendimento de natureza distinta da ciência. Não há métodos, objetos ou tipos de argumentação específicos ou exclusivos da filosofia. Tal como concebida no naturalismo quineano, a filosofia é a parte mais geral e abstrata do empreendimento científico. Ela não difere da ciência em gênero, mas apenas em grau. O filósofo sistematiza os conhecimentos e resultados dos diversos ramos das ciências, esclarece e depura a linguagem, propõe novas terminologias e novas hipóteses gerais. Ao fazer isso, nada faz que já não seja feito nas diversas disciplinas científicas. Apenas o faz em graus mais altos de generalidade e abstração. Não faz experimentos ou observações diretas da natureza, mas nisso ele não difere de cientistas que elaboram teorias gerais. O cientista e o filósofo promovem esclarecimentos terminológicos ao mesmo tempo em que sistematizam teorias. O trabalho de ambos é, a um só tempo, linguístico e teórico. Ambos buscam verdade e clareza. Ambos trabalham em um empreendimento comum, e nele se engajam no meio do caminho, levando em conta os resultados passados, o estado atual do conhecimento e as suas possíveis ampliações no futuro. Ao reconhecer que toda investigação da realidade tem de partir do lugar em que estamos na estrada do conhecimento, o filósofo naturalista repudia o “exílio cósmico”:
“Ele não pode estudar e revisar o esquema conceitual fundamental da ciência e do senso comum sem ter algum esquema conceitual com o qual trabalhar, esse ou algum outro não menos carente de escrutínio filosófico. Ele pode escrutinar e melhorar o sistema a partir de dentro, apelando à coerência e à simplicidade; mas esse é, em geral, o método do pesquisador teórico.” (Word and object, 1960, p. 275)
Esses aspectos da filosofia naturalista de Quine contrastam com boa parte da filosofia analítica da primeira metade do século XX, que tendeu a conceber a atividade filosófica como distinta em gênero da atividade científica. Às ciências caberia a tarefa de descrever a realidade e à filosofia, a de fundamentar essas descrições e esclarecê-las. A essa divisão do trabalho intelectual corresponderia uma distinção entre questões de significado e questões de fato. Na filosofia de Quine, essa distinção é posta em xeque. É justamente esse o ponto central de sua famosa divergência com Carnap a respeito de enunciados analíticos e sintéticos. Como alternativa, Quine propõe uma compreensão holística da ciência e da linguagem, conforme se vê no artigo a seguir traduzido. Um efeito dessa reconcepção da filosofia é o ressurgimento, no interior da filosofia, de programas de pesquisa em que a busca da verdade está em primeiro plano ou ao menos em pé de igualdade com investigações de natureza mais lógica ou linguística.
(R.P. Severo e G.G. Schüler)
__________________________________________
Naturalismo; ou, viver dos próprios recursos
W.V. Quine
Celebrando o sexagésimo aniversário de Henri Lauener
___________
Resumo: O naturalismo sustenta que não há acesso mais elevado à verdade do que por meio de hipóteses empiricamente testáveis. No entanto, não repudia hipóteses que não podem ser testadas. Elas preenchem os interstícios das teorias e conduzem a hipóteses novas e testáveis.
Uma hipótese é testada deduzindo-se dela e de alguma teoria já aceita algum categórico observacional [observation categorical] não derivável apenas da teoria já aceita. Esse categórico, um enunciado condicional generalizado composto de duas frases observacionais, admite, por sua vez, um teste experimental primitivo.
As próprias frases observacionais, tais como os guinchos de um símio ou os cantos de um pássaro, estão em associação holofrástica com gamas de inputs neurais. A denotação de objetos determinados não figura nem nessa associação nem na dedução do categórico a partir de hipóteses científicas. Em consequência, temos a indeterminação da referência. A ontologia é puramente auxiliar à estrutura da teoria. A verdade, no entanto, é vista ainda como transcendente, ao menos no seguinte sentido: não dizemos que uma teoria científica superada deixou de ser verdadeira, mas que descobrimos que ela era falsa.
__________
Nomes de posições filosóficas são males necessários. São necessários pois precisamos nos referir a uma determinada posição ou doutrina de vez em quando e seria cansativo reiterá-las. São males à medida que passam a ser concebidos para designar escolas de pensamento, objetos de lealdade interna e de opróbrio externo; portanto, obstáculos, internos e externos, à busca da verdade.
Assim, ao identificar a posição filosófica que chamo de naturalismo, estarei somente descrevendo minha própria posição, sem prejuízo a possíveis usos divergentes do termo. Em Theories and things, escrevi que o naturalismo consiste no “reconhecimento de que é no interior da ciência ela mesma, e não em uma filosofia primeira [prior], que a realidade deve ser identificada e descrita”; e, igualmente, no“abandono da meta de uma filosofia primeira, anterior à ciência natural” (p. 21; p. 67). Essas caracterizações expressam o tom adequado, mas se sairiam mal em um debate. Quanto qualificaríamos de “ciência ela mesma” e não de “filosofia primeira”?
Na “ciência ela mesma” eu certamente gostaria de incluir os voos mais longínquos da física e da cosmologia, bem como a psicologia experimental, a história e as ciências sociais. Também incluiria a matemática, ao menos à medida que é aplicada, pois ela é indispensável à ciência natural. O que, então, estou excluindo como “filosofia primeira”, e por quê? Diz-se do dualismo cartesiano entre a mente e o corpo que é metafísico, mas poderia ser também considerado científico, embora falso. Descartes tinha até mesmo uma teoria causal da interação entre mente e corpo por meio da glândula pineal. Se eu enxergasse benefícios explanatórios indiretos em postular sensibilia, possibilia, espíritos, um Criador, eu alegremente também lhes concederia um status científico, ao lado de postulados reconhecidamente científicos, tais como quarks e buracos negros. O que, afinal, eu de fato bani sob o nome de filosofia primeira?
Demarcação não é o meu propósito. Meu argumento na caracterização recém citada do naturalismo é apenas que o máximo que podemos almejar, de modo razoável, em apoio a um inventário e a uma descrição da realidade é a testabilidade de suas consequências observacionais pelo já consagrado modo hipotético-dedutivo – a respeito do qual falarei mais adiante. O naturalismo não precisa espargir dúvidas a respeito das metafísicas irresponsáveis, por mais que estas as mereçam, e muito menos a respeito das ciências humanas [soft sciences] ou dos ramos especulativos das ciências exatas [hard sciences], exceto à medida que reivindicam para si uma base mais firme do que o próprio método experimental.
É na epistemologia naturalista que a renúncia naturalista se mostra mais clara e significativa. Diversos epistemólogos, de Descartes a Carnap, buscaram um fundamento para a ciência natural em entidades mentais, no fluxo de dados brutos dos sentidos. Era como se pudéssemos primeiro criar uma doutrina [lore] autossuficiente e infalível de dados dos sentidos, livre de referências a coisas físicas, e então construir, de algum modo, nossa teoria do mundo exterior com base naquele alicerce bem-acabado. O epistemólogo naturalista dispensa o sonho de uma linguagem primeira para os dados dos sentidos, argumentando que a postulação de coisas físicas é ela própria nossa ferramenta indispensável para organizar e registrar o que de outro modo é, nas palavras de James, uma “confusão florescente, zunzunante”.
Assim, para explicar o conhecimento de um objeto ou evento externo, o epistemólogo naturalista olha antes para a própria coisa ou evento externo e para sua cadeia causal de estimulação do cérebro de alguém. Em um caso paradigmático, raios de luz são refletidos do objeto para a retina, ativando uma gama de terminações nervosas: cada uma delas inicia um impulso nervoso para uma ou outra região do cérebro. Por meio de processos complexos dentro do seu cérebro e motivada a imitar outras pessoas ou a seguir uma instrução, no final dessa cadeia causal, uma criança, no seu devido tempo, profere ou assente a alguma frase rudimentar, que chamo de frase observacional. Entre seus exemplos, encontram-se “está frio”, “está chovendo”, “(isto é) leite” e “(isto é um) cachorro”.
Habitualmente, o psicólogo experimental escolhe um ou outro objeto ou evento, de algum ponto dessa cadeia causal, para representar o que chama de estímulo. Geralmente, trata-se de um evento concebido por ele mesmo. Em um experimento, pode ser um lampejo ou um zunido nas proximidades do sujeito da pesquisa. Em outro, um cubo de gelo ou um choque na superfície desse sujeito. Para nossos propósitos mais gerais, independentes de quaisquer experimentos específicos, uma estratégia econômica para definir o estímulo é interceptar as cadeias causais apenas na superfície do sujeito. Nada se perde, pois é apenas daquele ponto adentro que as cadeias causais contribuem para o conhecimento que um sujeito tem do mundo exterior.
De fato, aquilo que chega à superfície de um sujeito só é relevante se leva ao disparo de seus receptores neurais. Então, para nossos propósitos, podemos simplesmente identificar o estímulo que alguém tem, durante um breve momento, com o conjunto temporalmente ordenado de receptores neurais disparados naquele momento.
Pode-se buscar uma economia ainda maior interceptando-se as cadeias causais em um nível mais profundo – em algum lugar dentro do cérebro; pois mesmo os receptores de superfície que são disparados em alguma ocasião particular em boa medida não têm efeitos relevantes no comportamento do sujeito. Porém, nosso conhecimento desses níveis mais profundos é ainda demasiado incompleto. Além disso, à medida que a pesquisa gradualmente penetra nessas profundezas, tornamo-nos cientes de uma complexidade e heterogeneidade radicalmente contrastante com a simplicidade na superfície. Cada receptor, afinal, admite apenas dois estados bem definidos: disparado ou não.
De resto, os disparos comportamentalmente irrelevantes em um estímulo global podem ser oportunamente eliminados por apelo à similaridade perceptiva de estímulos. Os receptores cujos disparos são salientes para um dado estímulo são os compartilhados com todos os estímulos perceptivamente similares. A própria similaridade perceptiva pode ser medida, em um dado indivíduo, por reforço e extinção de respostas.
Portanto, para os presentes propósitos, parece melhor interpretar o estímulo que alguém tem em uma ocasião particular simplesmente como seu input neural global naquela ocasião. Mas vou me referir a ela somente como input neural, não estímulo, pois outras noções de estímulo são empregadas em outros estudos, particularmente aqueles em que sujeitos distintos recebem o mesmo estímulo. Os inputs neurais são privadas, pois sujeitos não compartilham receptores.
A similaridade perceptiva, desse modo, é uma relação entre os inputs neurais de um sujeito. Embora testável, o assunto é privado; os inputs são de um sujeito, e perceptivamente são mais ou menos similares para esse sujeito. A similaridade perceptiva é a base de todo o aprendizado, toda formação de hábitos e toda a expectativa indutiva a partir de experiências passadas, pois somos inatamente inclinados a esperar que eventos similares possuam sequências similares entre si.
A associação de frases observacionais com inputs neurais é do tipo muitos-para-muitos. Dentro de uma gama de inputs perceptivos, os que são razoavelmente semelhantes entre si podem incitar o assentimento do sujeito a uma frase qualquer dentro de uma de uma gama de frases semanticamente aparentadas. Mas em contraste com a privacidade dos inputs neurais e com a privacidade de sua similaridade perceptiva, as frases observacionais e suas semânticas são públicas, dado que a criança deve aprendê-las com os mais velhos. Seu aprendizado, assim, depende de fato tanto do uso público das frases observacionais quanto de uma harmonia preestabelecida das escalas privadas de similaridade perceptiva dos indivíduos. A harmonia é formal neste sentido: se uma testemunha considera a primeira de três cenas menos similar à segunda do que à terceira, é provável que uma outra testemunha faça o mesmo. Essa harmonia aproximada é preestabelecida por um patrimônio genético compartilhado. Ainda assim, as sensações de pessoas diferentes podem não coincidir, seja lá o que isso signifique.
Assim concebida, tal harmonia é um análogo ou uma contraparte naturalista do fundamento tradicional nos dados dos sentidos buscado pelo epistemólogo fenomenalista. No entanto, ela aspira à plausibilidade em psicologia, em genética e até mesmo em pré-história. As frases observacionais têm seus antecedentes nos cantos dos pássaros e nos guinchos sinalizadores dos símios.
Baseando-se nesse fundamento naturalista, em paralelo à construção da ciência sobre um alicerce de dados dos sentidos proposta pelo antigo epistemólogo, o naturalista arriscaria um esboço psicológica e historicamente plausível da aquisição da ciência por um indivíduo – e, talvez, da evolução da ciência ao longo dos tempos – tendo em vista, primariamente, a lógica da evidência. Vou poupar-lhes da maior parte desse tema, pois já tratei disso em Word and object e, melhor ainda, em The roots of reference, Pursuit of truth e outros textos. Há apenas dois aspectos dos quais quero lembrá-los.
Um deles é a reificação, ou a postulação de objetos. Quando usadas no discurso adulto, as frases observacionais comumente contêm palavras que se referem a objetos. Contudo, a criança primeiro as adquire somente como todos uniformes, condicionados – como os guinchos sinalizadores dos símios – a gamas apropriadas de inputs neurais globais. No entanto, já há um prenúncio de reificação em nossa propensão inata – bem como na de outros animais – a conferir saliência àqueles componentes de um input neural que transmitem fragmentos corpóreos do campo visual. Isso é o que Donald Campbell chama de reificação inata de corpos, mas eu a entendo como uma reificação que ocorre de modo gradual. Maneiras especiais de compor frases observacionais marcam os passos seguintes da reificação de corpos, e o trabalho estará completo apenas quando o falante dominar os tempos pretérito e futuro e souber da translação invisível, embora contínua, de um corpo idêntico através do espaço entre as observações. É só então que ele compreenderá um corpo como o mesmo corpo em ambas as observações, apesar das mudanças acontecidas na aparência desse corpo.
Nesse ponto, a reificação de corpos é plena. A reificação de corpos menos conspícuos, notadamente os objetos abstratos, como números e conjuntos, exige maiores explicações, e as admite. Na minha concepção, um passo crucial, nesses casos, é o domínio de orações e pronomes relativos.
Essa florescente linguagem da ciência é uma extensão direta da linguagem balbuciante das observações. Segmentos de frases observacionais são mantidos e tornam-se – ao menos alguns deles – termos para designar objetos. Por outro lado, frases aprendidas apenas mais tarde, pela síntese gramatical de um vocabulário sofisticado, podem vir a se qualificar como frases observacionais também. Pois o que tomo como definitivo em frases observacionais é apenas o seguinte par de condições: a primeira, o falante deve estar propenso a assentir à frase ou dissentir dela irrestritamente ao fazer a observação apropriada, independentemente de sua linha de pensamento interrompida, se houver; a segunda, esse veredito deve demandar o acordo de quaisquer testemunhas da comunidade linguística apropriada. Essa segunda exigência, a da intersubjetividade, é necessária para que a criança seja capaz de aprender com pessoas mais velhas as frases observacionais; algumas das quais são as suas brechas de entrada indispensáveis na aquisição da linguagem cognitiva. A intersubjetividade de frases observacionais é igualmente essencial no outro extremo, para assegurar a objetividade da ciência.
O compartilhamento do vocabulário entre frases observacionais e frases da ciência não foi necessário apenas para o surgimento da linguagem científica; ele também é necessário para canalizar o teste empírico de hipóteses científicas. As hipóteses primordiais – as que chamo de categóricos observacionais – são combinações de pares de frases observacionais: por exemplo, “Quando neva, faz frio”. Para verificar experimentalmente essa hipótese colocamo-nos propositalmente em uma situação em que a ocorrência do primeiro componente, “Está nevando”, seja observada; em seguida, verificamos se o segundo componente, “Faz frio”, também ocorre. Se este ocorrer, o categórico se sustenta, até segundo aviso. Se não ocorrer, está refutado de uma vez por todas.
Vejo isso como a chave para o teste empírico também de hipóteses mais sofisticadas. Unimos as hipóteses em questão a um conjunto de enunciados já previamente aceitos, suficientes em conjunto para implicar algum categórico observacional que não foi implicado apenas pelo conjunto anterior. E então verificamos o categórico observacional.
O recurso à implicação lógica aqui não apresenta problemas. As leis básicas da lógica são internalizadas ao aprendermos o uso das partículas lógicas. Por exemplo, a criança aprende por observação e correção parental que é um mau uso da conjunção “e” afirmar uma composição que une seus componentes por essa conjunção e depois negar um de seus componentes. Dessa forma, a criança internaliza uma implicação lógica simples, a saber, que uma composição conjuntiva (unida por “e”) implica ambos os seus componentes, sob pena de apenas usar de forma errada uma palavra simples. Isso vale de modo correspondente para outras implicações básicas, inclusive para as leis dos quantificadores e da identidade. Até aqui, concordo com Lauener em reconhecer a analiticidade.
Os cientistas certamente não traçam todas essas ligações implicativas entre hipóteses e categóricos observacionais. Isso significaria preencher todos os enunciados auxiliares logicamente exigidos, a maioria dos quais lhes parece tão familiar ou trivial o suficiente para ser pressuposta. Na prática, além disso, muitas premissas tácitas frequentemente expressam meras tendências estatísticas ou probabilidades, que eles aceitam sem dificuldade, a menos que resultados inesperados os levem a reconsiderá-las.
Ainda assim, a dedução e a verificação de categóricos observacionais são certamente a essência do método experimental, o método hipotético-dedutivo, que, nas palavras de Popper, é o da conjectura e refutação. Isso realça a predição de eventos observáveis como o teste derradeiro das teorias científicas.
Eu falo de teste, não de propósito. O propósito da ciência deve ser buscado mais na curiosidade intelectual e na tecnologia. Em seu inícios pré-históricos, no entanto, o propósito dos primeiros vislumbres de teoria científica era presumivelmente a predição, na medida em que o propósito pode ser “desespiritualizado”, sendo embutido na seleção natural e no valor para a sobrevivência. Isso reconduz ao nosso senso inato ou padrão de similaridade perceptiva, e à expectativa inata de que eventos similares terão sequências mutuamente similares. Em suma, trata-se da indução primitiva.
A predição é uma expectativa verbalizada. A expectativa condicional, quando correta, possui valor para a sobrevivência. Por conseguinte, a seleção natural favoreceu padrões inatos de similaridade perceptiva que se harmonizassem com as tendências em nosso ambiente. A ciência natural é, por fim, a expectativa condicional hipertrofiada.
Eu disse que a predição não é o principal propósito da ciência, mas apenas o teste. É um teste negativo, nesse sentido, um teste por refutação. Deixe-me adicionar – contraiando o positivismo – que uma frase sequer precisa ser testável para qualificar-se como uma frase científica respeitável. Uma frase é testável, em meu sentido amplo [liberal] ou holístico, se adicioná-la a um conjunto de frases previamente aceitas engancha [clinches] um categórico observacional que não era implicado isoladamente por tais frases. Contudo, muito da ciência de boa qualidade não é testável mesmo nesse sentido amplo. Acreditamos em muitas coisas porque elas se encaixam suavemente por analogia, ou tornam mais simétrico e simples o design geral. Por certo, muita história e ciência social são desse tipo, e uma parte das ciências exatas [hard sciences] também. Além disso, tais aceitações não são caprichos ociosos; a sua proliferação gera, aqui e ali, uma hipótese que pode de fato ser testada. Certamente essa é uma das fontes principais de hipóteses testáveis e do crescimento da ciência.
A naturalização da epistemologia, tal como a esboço aqui, é tanto uma limitação quanto uma libertação. A antiga busca por um fundamento para a ciência natural, mais firme que a própria ciência, é abandonada: nisso está a limitação. A libertação está no livre acesso aos recursos da ciência natural, sem medo de circularidade. O epistemólogo naturalista se contenta com o que pode aprender sobre a estratégia, a lógica e a mecânica pelas quais a nossa teoria sofisticada do mundo físico é de fato – ou pode ser, ou deve ser – projetada apenas a partir de inputs neurais amorfas.
Esse tipo de coisa ainda é filosofia? O naturalismo traz um embaçamento salutar de tais fronteiras. A filosofia naturalista é contínua à ciência natural. Ela busca clarificar, organizar e simplificar os conceitos mais amplos e básicos, bem como analisar o método e a evidência científica dentro da moldura da própria ciência. A fronteira entre a filosofia naturalista e o resto da ciência é apenas uma vaga questão de grau.
O naturalismo está naturalmente associado ao fisicalismo, ou materialismo. Eu não os equiparo, como testemunha meu comentário anterior a respeito do dualismo cartesiano. De fato, aceito o fisicalismo como uma posição científica, mas poderia ser dissuadido dele com base em razões científicas futuras, sem ser dissuadido do naturalismo. De fato, a mecânica quântica, em sua interpretação neoclássica ou de Copenhagen, possui um toque distintamente mentalista.
Meu naturalismo evidentemente se resume à afirmação de que em nossa busca da verdade a respeito do mundo não podemos ser mais bem-sucedidos que o tradicional procedimento científico, o método hipotético-dedutivo. Aqui, uma objeção logo se apresenta, certamente vinda de matemáticos. A defesa óbvia contra ela é afirmar que verdades matemáticas não tratam do mundo. Mas essa não é a melhor defesa. A meu ver, a matemática aplicada trata do mundo.
Deste modo, considere novamente o caso em que estamos testando uma hipótese científica unindo-a a alguns enunciados já aceitos e deduzindo um categórico observacional. É provável que alguns desses enunciados já aceitos sejam puramente matemáticos. É assim que a matemática pura é aplicada. Qualquer que seja o conteúdo empírico que aqueles enunciados já aceitos possam reivindicar por serem necessários para implicar o categórico observacional, ele está impregnado particularmente de enunciados matemáticos.
Assim, estou inclinado a borrar a fronteira entre a matemática e a ciência natural, não menos do que a fronteira entre a filosofia e a ciência natural. Se alguém protestar que verdades matemáticas provadas não estão sujeitas à refutação subsequente, minha resposta é que as preservamos escolhendo revogar, em seu lugar, enunciados não matemáticos, nos casos em que descobrirmos que um conjunto de enunciados implica um categórico observacional falso. Razões podem ser aduzidas para fazê-lo; mas aqui isso já basta.
Isso deixa em aberto as vastas proliferações da matemática para as quais não possuímos intuito ou perspectiva de aplicação. Apenas por tolerância vejo esses domínios como integrantes da nossa teoria geral da realidade: eles são expressos na mesma sintaxe e léxico que a matemática aplicável, e excluí-los como sem sentido, por meio de uma manipulação [gerrymandering] ad hoc da nossa sintaxe, seria, no mínimo, uma ingratidão. Então, resta-nos tentar avaliar essas frases como verdadeiras ou falsas também, se nos importarmos. Muitas delas são estabelecidas por meio das mesmas leis que fixam a matemática aplicável. Para o restante, na medida do possível, eu as estabeleceria por considerações de economia, tal como o fazemos na na ciência natural quando tentamos enquadrar hipóteses científicas dignas de teste experimental.
Em seu intento, a epistemologia tradicional era em parte normativa. A epistemologia naturalista, por contraste, é vista por Henri Lauener e outros como puramente descritiva. Eu discordo. Assim como a epistemologia tradicional, em seu lado especulativo, é naturalizada na ciência, ou em seus parentes próximos, em seu lado normativo, ela é naturalizada na tecnologia, a tecnologia de cientizar [scientizing].
O que pode ser oferecido, em primeiro lugar, como uma norma da epistemologia naturalizada é a predição de observação como teste de uma hipótese. Eu a concebo como mais do que uma norma: é o nome do jogo. A ciência não pode ser toda ela testada, e quanto mais branda a ciência, mais esparsos os testes. Mas quando é testada, o teste é a predição de observação. Ademais, o naturalismo não reivindica exclusivamente para si esse princípio, que é, aliás, o cerne do empirismo.
O que é mais distintamente naturalista e tecnológico são as normas baseadas em descobertas científicas. Assim, a ciência tem muito bem estabelecido – mas sujeito a posterior desestabelecimento, como sempre – que nossas informações de eventos ou pessoas distantes nos alcança apenas por meio do impacto de raios e partículas em nossos receptores sensoriais. Um corolário normativo é o de que devemos ter cautela com relação a astrólogos, quiromantes e outros adivinhos. Pense duas vezes antes de aceitar a percepção extrassensorial.
Para um espectro mais rico de normas, vagas em vários graus, devemos olhar para as heurísticas da hipótese: como elaborar uma hipótese digna de teste. É aqui que considerações de conservadorismo e simplicidade entram em cena, e, em um nível mais técnico, a teoria da probabilidade e da estatística. Na prática, essas questões técnicas também se alastram, como comentei, de modo a complicar o próprio método hipotético-dedutivo.
Eu disse no início deste artigo que, segundo o naturalismo, é dentro da própria ciência, e não em uma filosofia primeira, que a realidade deve ser identificada. Mais adiante, segundo um espírito mais estritamente científico, especulei sobre como completamos nosso reconhecimento de objetos como objetos, pouco a pouco, com nossa aquisição da linguagem e da ciência. Esses assuntos exigem agora algumas reflexões filosóficas mais amplas.
Lembremo-nos, de início, que a associação de frases observacionais a inputs neurais é holofrástica. Quais objetos as palavras componentes podem designar em outros contextos é irrelevante para a associação. Isso é obviamente o caso se a frase observacional é adquirida como um primeiro passo no aprendizado da linguagem; mas a associação opera igualmente de forma direta e holofrástica mesmo quando a frase é adquirida por meio da síntese de palavras e ganha sua imediaticidade apenas por meio da familiarização subsequente.
Além disso, as especificidades de designação e denotação são não apenas indiferentes à associação entre frases observacionais e inputs neurais; elas também são indiferentes à implicação de categóricos observacionais pela teoria científica. Trata-se de implicação lógica; e a lógica, diferentemente da teoria dos conjuntos e do resto da matemática, não é sensível a nenhum atributo de objetos, além da identidade da diferença. Portanto, devemos concluir que objetos de qualquer tipo figuram apenas como nós neurais na estrutura da teoria científica, no que diz respeito às evidências empíricas. Podemos arbitrariamente mudar os valores de nossas variáveis, os designata de nossos nomes e os denotata de nossos predicados, sem perturbar as evidências, desde que os novos objetos sejam explicitamente correlacionados um a um aos antigos. Isso é o que passei a chamar de indeterminação da referência.
À primeira vista, isso talvez soe alarmante. Parece que não nos restaria nenhuma base para julgarmos se estamos falando de coisas familiares ou de substitutos [proxies] arbitrários. No entanto, o choque diminui quando refletimos a respeito de um ou dois casos familiares. Assim, considere um corpo na moldura científica do espaçotempo. Na medida em que você especifica o sinuoso e preciso filamento de espaçotempo quadridimensional que o corpo preenche no decorrer do seu percurso, você fixa o objeto de modo único. Podemos prosseguir e identificar o objeto, um esquilo talvez, com sua porção de espaçotempo, afirmando deste modo que ele é pequeno em sua ponta inicial e maior em sua ponta final. A manobra é artificial, mas na verdade produz um pouco de economia, se, de qualquer maneira, formos manter o espaçotempo. As conotações subjetivas de marrom, maciez, movimento rápido e errático e o restante simplesmente se mantêm. Certamente, todas as questões a respeito de indícios observacionais permanecem imperturbadas. Estamos até preparados a dizer que um corpo era isso desde o começo: uma porção apropriadamente preenchida do espaçotempo, por oposição às porções vazias.
Em seguida, podemos identificar regiões do espaçotempo com os conjuntos de quádruplas de números que as determinam em um eixo de coordenadas arbitrariamente adotado. Podemos agora transferir conotações sensoriais ao objeto matemático abstrato formado por tais quádruplas e, ainda assim, não perturbar de modo violento as evidências científicas. Dizendo-0 intuitivamente, nada realmente aconteceu.
Desta forma, podemos, de algum modo, nos reconciliar com a indeterminação da referência, enquanto aplicada a corpos e outras substâncias sensíveis, simplesmente ao deixar as conotações sensoriais das frases observacionais se transferirem dos antigos objetos aos seus substitutos.
No caso de objetos abstratos como números, desprovidos de conotações sensoriais, a indeterminação da referência já é familiar. Ela pode ser vista no chamado “problema de César”, apresentado por Frege: o número cinco pode ser Júlio César. Alegremente, usamos números sem nos preocuparmos se são interpretados conforme as construções de Frege-Russell, as de Ackermann ou as de von Neumann. O argumento foi dramatizado há tempo por F. P. Ramsey, por meio do que veio a ser chamado de “frases-Ramsey”. Em vez de invocar os objetos abstratos de modo específico, sempre que algumas de suas propriedades são necessárias em um argumento, uma frase-Ramsey afirma apenas que há objetos com aquelas propriedades, e então os invoca por meio de variáveis, sem qualquer especificação adicional. No entanto, esse expediente funciona apenas para objetos abstratos, usados como auxiliares aqui e ali sem considerarmos se permanecem os mesmos em contextos diferentes.
A indeterminação da referência pode ser vista novamente em sua generalidade plena – como Davidson uma vez comentou – por meio de um exame da definição de verdade clássica, de Tarski. Se uma frase resulta ser verdadeira sob essa definição, continuará sendo verdadeira quando os objetos forem reatribuídos aos seus predicados numa relação um-para-um qualquer.
Essas reflexões sobre ontologia são um lembrete salutar de que os dados últimos da ciência estão limitados aos nossos inputs neurais, e que a própria noção de objeto, concreto ou abstrato, é criação nossa, assim como o restante da ciência natural e da matemática. É o aparato supremamente engenhoso que temos para sistematizar, predizer e controlar parcialmente nossos inputs, de que podemos nos orgulhar.
Espero que essa concepção convencionalista da ontologia seja atrativa para Henri Lauener. Seu pragmatismo aceita até mesmo uma pluralidade de especialidades científicas, cada qual funcionando com sua própria ontologia, sem sonhar com um fato abrangente e unificador.
O próprio naturalismo não se compromete com uma resposta à questão da unidade da ciência. O naturalismo apenas a vê como uma questão interna à própria ciência; porém, uma questão ainda mais afastada dos pontos de verificação [checkpoints] observacional do que as questões mais especulativas das – assim comumente chamadas – ciências exatas e humanas.
O naturalismo pode ainda respeitar o impulso, por parte de alguns de nós, por uma ontologia unificada que sirva a todos os propósitos. Este impulso é típico do temperamento científico e parte integral do impulso por simplicidade que molda as hipóteses científicas em geral. O fisicalismo é a sua manifestação mais familiar, e ele certamente teve efeitos colaterais importantes no enquadramento de hipóteses mais específicas em diversos ramos da ciência, pois ele valoriza hipóteses favoráveis à maior integração com a própria física. Temos aqui um notável caso do que mencionei anteriormente: hipóteses científicas que, apesar de elas mesmas não serem testáveis, ajudam a suscitar outras que o são.
Em todo caso, estamos agora vendo a ontologia como uma escolha humana mais plena do que costumávamos ver. Somos atraídos pelo pragmatismo de Lauener. Devemos então concluir que a verdadeira realidade está para além de nosso alcance? Não, isso seria abandonar o naturalismo. Antes, a noção de realidade é, ela mesma, parte do aparato; e gravetos, pedras, átomos, quarks, números e classes são todos habitantes plenamente reais de um mundo em última análise real, exceto na medida em que nossa atual ciência possa provar-se falsa em testes futuros.
O que, então, o naturalismo tem a dizer a respeito de verdade e falsidade? O predicado “verdadeiro” não traz problemas em seu uso cotidiano normal como instrumento do que chamei de ascensão semântica. A explicação desmencional [disquotational account], de Tarski o acomoda, contanto que “verdadeiro” seja aplicado a frases de nossa própria linguagem; e então estendemos o predicado a frases de outras linguagens que aceitamos como traduções de verdades de nossa própria. Porém, os paradoxos surgem se predicarmos “verdadeiro” de frases que contêm esse mesmo predicado ou algum predicado aparentado. Então, somos chamados a reconhecer uma hierarquia de predicados “verdadeiros”, cada um se comportando adequadamente apenas na aplicação a frases que não o contenham nem contenham predicados de hierarquia superior. Trata-se de uma hierarquia de predicados “verdadeiro” cada vez melhores, mas não há nenhum que seja definitivamente o melhor. Na prática, exceto em contextos filosóficos como esses, raramente surgem ocasiões para nos arriscarmos acima do primeiro degrau da escada. A verdade fora da hierarquia, a verdade absoluta, seria de fato transcendente; trazê-la para baixo, à teoria científica do mundo, gera paradoxos. Por isso, o naturalismo não tem lugar para ela.
Entretanto, nosso conceito de verdade se estende para seus ancoradouros naturalistas de outra maneira. Nós, naturalistas, afirmamos que a ciência é o caminho superior para a verdade, mas, ainda assim, não afirmamos que tudo a respeito do que os cientistas concordam seja verdadeiro. Nem afirmamos que algo que antes era verdadeiro tornou-se falso quando cientistas mudaram de ideia. O que dizemos é que eles e nós pensávamos ser verdadeiro, mas não era. Temos cientistas buscando a verdade, não a decretando. A verdade então se mostra como um ideal da razão pura – na frase adequada de Kant – e de fato transcendente. Quanto a isso, estou novamente com Lauener.
C.S. Peirce tentou naturalizar a verdade ao identificá-la com o limite do qual o progresso científico se aproxima. Isso depende de suposições otimistas, mas, se reinterpretado como uma mera metáfora, esta de fato resume o vai e vem persistente dos cientistas, de conjecturas e refutações. A verdade como meta permanece como o uso estabelecido do termo, e eu aquiesço a ele como somente uma metáfora vívida para o contínuo ajuste de nossa imagem do mundo aos nossos inputs neurais. Desde um ponto de vista naturalista, a metáfora talvez seja uma categoria útil para acomodar conceitos transcendentes.
Arquipélago Filosófico, Vol. 1, No. 6 (2025), e-006
ISSN 3086-1136