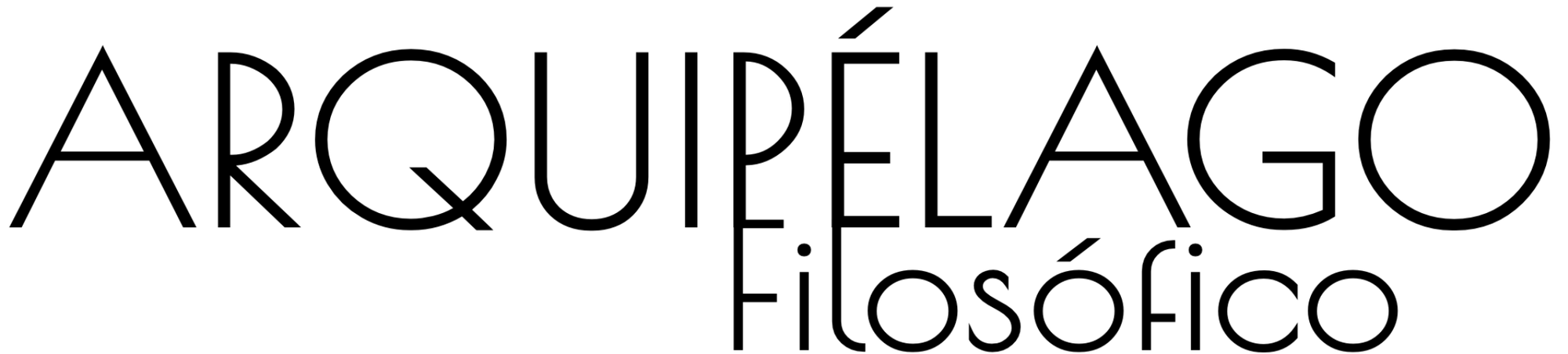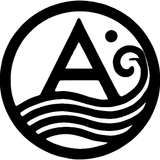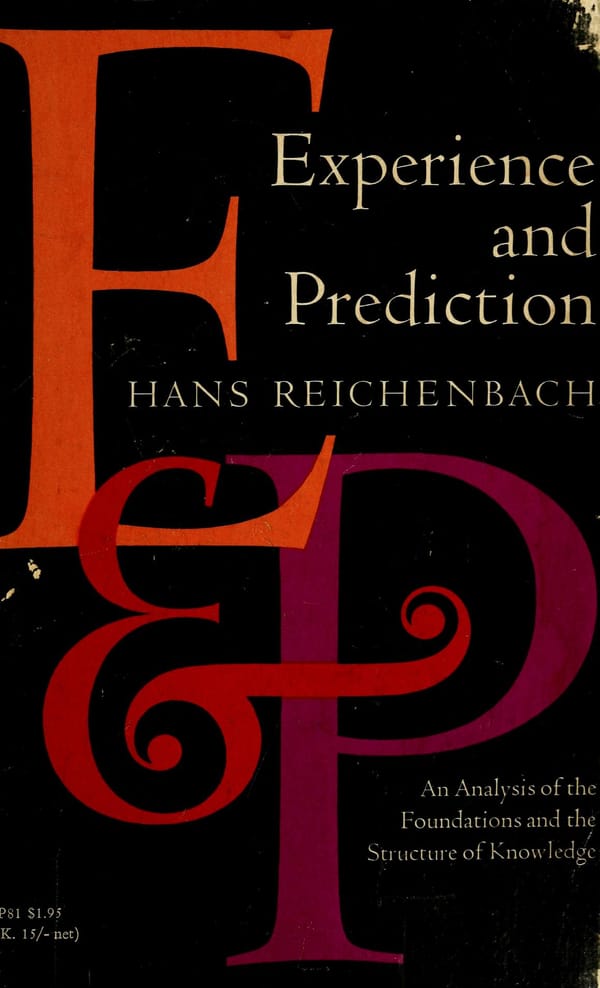Paulo Faria, Raciocínio inseguro

Tradução, por Giovanni Rolla (UFBA), de “Unsafe reasoning: a survey”, originalmente publicado na revista Dois Pontos, Vol. 6, No. 2 (2009): 185-201. Paulo Faria é professor titular do Departamento de Filosofia da UFRGS e autor do livro Time, thought, and vulnerability: an inquiry in cognitive dynamics (SADAF, 2021) [disponível na Amzn].
Raciocínio inseguro
Paulo Faria
Eis a história como nos foi contada: ninguém pode ser responsabilizado pelo que escapa a seu controle. Não me cabe impedir que as folhas caiam no outono. Dever, esse é o refrão, implica poder.
A história foi impugnada. A sorte moral é um tópico vívido em ética desde o simpósio que reuniu Bernard Williams e Thomas Nagel, dando partida ao debate, há mais de trinta anos (cf. Williams 1976, Nagel 1976). O motorista imprudente que ultrapassa um sinal vermelho pode ter a sorte de que nenhum pedestre esteja atravessando a rua; mas, com ou sem sinal vermelho, se uma criança vem correndo atrás de uma bola e é atropelada, isso faz toda a diferença. Toda a diferença moral: “Sentimos pena do motorista, mas esse sentimento coexiste com, e de fato pressupõe, o reconhecimento de que há algo de especial em sua relação com o ocorrido, algo que não pode ser meramente eliminado pela consideração de que ele não teve culpa” (Williams 1976: 28).
O direito, um domínio em que as consequências sempre importam, há muito conhece a doutrina da responsabilidade objetiva, que tem lugar de destaque em decisões judiciais sobre responsabilidade civil e criminal. No caso britânico Rylands versus Fletcher (1868), um reservatório subterrâneo de água pertencente aos réus provocou a ruína de uma antiga mina de propriedade do demandante. Embora a corte tenha estabelecido que os réus não foram negligentes, mesmo assim foram objetivamente responsabilizados pelo dano.[1]
Como veremos em seguida, não se trata de que dever não implique, sem mais, poder. Mas há mais coisas em ‘poder’ do que sonha nossa filosofia. Em particular, há algumas questões espinhosas a serem enfrentadas, que dizem respeito à relação entre controle (ou falta de controle) atual e controle (ou falta de controle) no que continuamos chamando, à falta de melhor nome, mundos possíveis suficientemente próximos. O motorista infeliz que atropelou a criança não teve, nas circunstâncias, nenhum controle sobre o ocorrido, mas as coisas poderiam ter sido diferentes: é assim que noções como negligência ingressam nessa ordem de considerações.
A sorte moral, bem entendido, não é meu assunto aqui; mas a suposição de fundo acerca da relação entre responsabilidade e controle está no coração do que mais me importa.
Meu objetivo é, em suma, submeter a um exame mais detido o que Roy Sorensen, num artigo extremamente instigante (e, lamento dizê-lo, largamente negligenciado), propôs chamar ‘sorte lógica’ (Sorensen 1998). O achado original de Sorensen era que os debates contemporâneos sobre o externalismo acerca do conteúdo mental (especialmente no que tange à aprioridade de nossas capacidades lógicas) resultam fecundamente iluminados quando situados no quadro mais amplo obtido pela comparação com o tópico, à primeira vista inteiramente independente, da sorte moral. Eu terei, como se verá, a ocasião de expressar alguma reserva acerca da abordagem resolutamente consequencialista da culpabilidade adotada por Sorensen; e, diversamente de Sorensen, farei uso essencial de certa distinção entre ignorância escusável e inescusável: algo que as contribuições até aqui divulgadas ao debate sobre ‘externalismo e inferência’ — centradas, como estão, nos experimentos mentais sobre ‘comutação lenta’ entre ambientes (slow switching) introduzidos por Burge em 1988 — tornaram virtualmente invisível.
Primeiro comer, depois a moral, recomenda Brecht.[2] Seguirei o conselho começando pelo pão de cada dia de algumas formas muito elementares de raciocínio. Casos algo mais sofisticados — envolvendo, em particular, viagens entre a Terra e a Terra Gêmea — emergirão a seu tempo. E então, quando a desenvoltura com que está ao alcance de qualquer um empreender tais vôos de imaginação houver tornado as coisas realmente impossíveis para nós (impossíveis como, de fato, elas se tornaram no atual estado da arte), será a hora de nos voltarmos para a filosofia prática em busca de alguma orientação. Mas comecemos pelo começo.
Se este peso de papel é uma pedra do Lago Walden, então algo é uma pedra do Lago Walden. Do mesmo modo, se tudo deve perecer, então Vanina deve perecer. Ou, em todo caso, assim parece; mas as aparências enganam.
Pois, pensando bem, o que exatamente foi designado pela expressão ‘este peso de papel’ (se é que algo o foi, bem entendido) no parágrafo precedente? Suponhamos que eu escrevi aquilo em casa, onde, de fato, tenho um peso de papel sobre a mesa em que trabalho; suponhamos, além disso, que, enquanto escrevia, eu tinha minha atenção voltada àquele (único) peso de papel sobre minha mesa. Nesse caso, se aquele objeto é uma pedra do Lago Walden (de fato é), então, certamente, algo é uma pedra do Lago Walden. Note-se, porém, quanto foi preciso supor.
Ou quão pouco: pois tudo se reduz a que ‘este peso de papel’ designe alguma coisa — que o predicado ‘é uma pedra do Lago Walden’, esteja sendo, verdadeira ou falsamente, atribuído a algo.
Do mesmo modo, se tudo deve perecer, também Vanina perecerá — desde que ‘Vanina’ nomeie algo. (A única Vanina que me vem à lembrança é uma personagem de um conto de Stendhal. E eu, pelo menos, certamente não me arriscaria a inferir, de ‘tudo deve perecer’, que uma entidade ficcional deve perecer.[3])
Isso é bastante trivial, mas é quanto basta para começarmos. Pois pareceria que a correção de uma inferência era assunto para ser decidido exclusivamente pela lógica; mas não acabamos de ver que não é assim? Afinal, o que está em jogo em meus dois exemplos é a verdade — contingente, ainda por cima — de uma suposição: a existência e a unicidade de certa pedra, a identidade de Vanina, seja Vanina quem ou o que, se é que algo, for. E o que a lógica tem a ver com isso? “A lógica”, escreveu Wittgenstein, “é anterior a toda experiência — de que algo é assim. Ela é anterior ao como, não é anterior ao quê” (Tractatus logico-philosophicus, 5.552, na tradução de Luiz Henrique Lopes dos Santos). Se algo existe — quanto mais se permanece o mesmo ou passa por mudança — não deveria ser assunto da lógica.[4] No epigrama de Hegel, a lógica é “a exposição de Deus como Ele é em sua essência eterna antes da criação da natureza e de um espírito finito” (1812: 50). Essas observações sibilinas podem soar como ‘coisas ocultas desde a fundação do mundo’, representativas do vezo compartilhado de seus autores pela dicção oracular, mas eis aqui o que Quine tem a dizer sobre as regras de inferência que conhecemos como Instanciação Universal e Generalização Existencial:
O princípio incorporado a essas duas operações é a ligação entre quantificações e enunciados singulares que estão relacionados com elas como instâncias. Contudo, é um princípio apenas por cortesia. Tem aplicação apenas ao caso em que um termo nomeia e, além disso, ocorre referencialmente. Trata-se simplesmente do conteúdo lógico da ideia de que uma dada ocorrência é referencial. O princípio é, por conseguinte, anômalo como um suplemento à teoria puramente lógica da quantificação. (Quine 1953: 146)
O que exatamente Quine (logo ele) pode ter querido dizer ao falar em ‘conteúdo lógico’ de uma ideia pode ser discutido. Mas, se ele está certo acerca de Instanciação Universal e Generalização Existencial, então o mesmo parece valer para qualquer regra de inferência em que possamos pensar. De ’Laura é canadense’ e ‘Laura é loira’ estamos autorizados a inferir ‘Laura é uma canadense loira’ — desde que o nome ‘Laura’, em ambas as ocorrências, denote a mesma pessoa. A regra que permite a inferência ‘é simplesmente o conteúdo lógico da ideia’ de que as duas ocorrências são correferenciais.
Essas ‘ideias’ (sobre existência, unicidade ou o que seja) são pressuposições empíricas — podem muito bem resultar falsas; e deveríamos considerar-nos afortunados pelo fato de que, feitas as contas, “vivemos em um mundo em que objetos e coisas são geralmente estáveis, e não somos transportados por gênios malignos de um planeta para outro” (Falvey 2003: 238).
E, no entanto, mesmo se não a toda hora, as coisas às vezes dão errado. Suponhamos que, chegando em casa ao entardecer, noto um belo cão Golden Retriever brincando no jardim de um vizinho. Detenho-me um instante a brincar com meu novo conhecido, que se mostra muito simpático. Sigo para casa pensando: ‘Eis aí um cão muito amistoso’.
Alguns dias depois, a cena se repete — ou assim parece. Eis o belo quintal com arbustos em flor, e o garboso cão amarelo correndo no jardim. Mais uma vez eu me detenho, esperando atrair a atenção do cachorro, talvez para isso assobiando ou estalando os dedos — desta vez, contudo, sem sucesso: ele continua correndo pelo jardim, ignorando meus gestos, latindo ao pé de uma ou outra árvore. Talvez tenha avistado um gato, vá saber. Volto para casa pensando: ‘Eis aí um cão muito inquieto’.
Estou agora autorizado a inferir que há um cão na minha vizinhança que é amistoso e inquieto?
-
Fa
-
Ga
-
∃x (Fx∧Gx)
Pois bem, suponhamos que meu vizinho é um criador de Golden Retrievers, e o que eu sucessivamente encontrei nessas duas ocasiões foi um par de irmãos da mesma ninhada — chamêmo-los Argos o Amistoso e Targos o Irrequieto. O fato é que Argos não é nada agitado, enquanto Targos é um cachorro de poucos amigos. Suponhamos, por fim, que não há nenhum outro cachorro na vizinhança. Nesse caso, minha conclusão é falsa, e o meu raciocínio incorreto — uma manifesta falácia de equivocação. Sua forma não é 1-3, mas:
-
Fa
-
Gb
-
∃x (Fx∧Gx)
E o problema está no modo como minha pressuposição empírica errônea (de que eu me encontrei duas vezes com um e o mesmo cachorro) afeta minha apreensão da forma lógica da inferência que realizei — especificamente, levando-me a tomar um argumento da forma 4-6 por um argumento da forma 1-3. Pois não se trata de que eu tivesse inferido validamente, mas minha inferência dependesse de uma premissa de identidade tácita (e falsa: a saber, que Argos = Targos) — de modo que meu raciocínio seria, de fato, um entimema:
-
Fa
-
Gb
-
a=b
-
∃x (Fx∧Gx)
Voltarei a essa sugestão adiante; por enquanto, seja-me permitido observar que sejam quais forem as pressuposições (sobre existência, unicidade, o que seja) de que depende minha inferência, é melhor não concebê-las premissas adicionais não-articuladas. Como veremos, por essa via chega-se à loucura.[5]
Pois bem, há uma receita poderosa para fazer com que percalços comezinhos como minha inferência desastrada sobre os cachorros da vizinhança soem realmente dramáticos — a ponto de que o que parecerá estar em risco é nada menos que “a aprioridade das nossas capacidades lógicas” (Boghossian 1992: 17). E a receita é fazer um pouco de ficção científica — ou, como filósofos de inclinação analítica preferem dizer, fazer alguns experimentos mentais.
Não é aqui que eu vou reprisar ainda uma vez as ficções de Putnam sobre a Terra Gêmea ou de Burge sobre ‘artrite’. Quero apenas chamar atenção para essa característica metodológica compartilhada por ambas: o apelo a pares de mundos possíveis que são contrapartidas epistemicamente indiscerníveis.
Eis, pois, o protagonista da história de Putnam, a pensar que o copo que tem em mãos está cheio do líquido incolor, insípido, inodoro, etc., que ele chama ‘água’. E eis aqui as duas contrapartidas: no Mundo Possível 1, ‘água’ denota H2O; no Mundo Possível 2, ‘água’ denota XYZ. Isso, como todos sabemos, terá conseqüências para a questão de saber onde significados devem ser encontrados; mas, para os presentes propósitos, eis o que realmente interessa: a diferença relevante (H2O / XYZ) é estipulada como inacessível da perspectiva da primeira pessoa: isso está incorporado ao experimento mental tal como o narramos.[6]
E é isso o que significa fazer um experimento mental (estipular, como diz Kripke, um mundo possível): nós, que realizamos o experimento mental, sabemos o que, por estipulação, nossos personagens ignoram. A ignorância deles (que pode, entre outras coisas, afetar a correção do seu raciocínio) é, nessas circunstâncias, escusável se alguma vez a ignorância o é.[7]
Essa é, claramente, a origem da controvertida questão da compatibilidade entre externalismo e autoridade da primeira pessoa. Como Tyler Burge apropriadamente resume: “Como um sujeito pode individuar seus pensamentos quando não discriminou, por meios empíricos, as condições empíricas que determinam esses pensamentos das condições empíricas que determinariam outros pensamentos?” (Burge 1988: 116)
Os experimentos mentais sobre comutações lentas de ambiente, introduzidos por Burge em “Individualism and self-knowledge” (1988), em que a Terra e a Terra Gêmea coexistem no mesmo mundo possível, trazem à tona a dimensão diacrônica do Problema da Autoridade da Primeira Pessoa: especificamente, o impacto que a mudança de parâmetros contextuais tem sobre a capacidade de um sujeito de reter e reutilizar conteúdos conceituais. Eis aqui Burge, e seja-me permitido citá-lo longamente:
Suponhamos um sujeito passou por uma série de idas e vindas entre a terra atual e a terra gêmea atual, permanecendo em cada ambiente por tempo suficiente para adquirir conceitos e percepções apropriadas para cada ambiente. Suponhamos ocasiões em que o sujeito está definidamente tendo um pensamento, e outras ocasiões em que está definidamente tendo o pensamento-gêmeo. Suponhamos também que as comutações acontecem de modo que o sujeito não esteja ciente delas. A continuidade da vida do sujeito não é obviamente interrompida. Assim, por exemplo, o sujeito vai dormir uma noite em casa e acorda na casa gêmea na cama gêmea — e assim por diante. (Escolha sua fantasia hollywoodiana preferida.) E suponhamos que, depois de décadas de tais comutações, o sujeito é informado acerca delas e pede-lhe que identifique quando elas aconteceram. A ideia é que o sujeito não pode, através de comparações, distinguir os períodos gêmeos dos ‘períodos domésticos’. (Burge 1988: 115. Itálicos meus, PF).
Como era de se esperar, as comutações lentas afetarão “qualquer raciocínio que transcorra no tempo, portanto, qualquer raciocínio” (Burge 1988: 363); pois a capacidade do sujeito de avaliar a correção de uma inferência pareceria comprometida por sua ignorância de ter sido transportado.
Esse era o problema suscitado por Boghossian em “Externalism and inference”: o externalismo “é inconsistente com a tese de que nossos conteúdos de pensamento são epistemicamente transparentes para nós (...) isso é verdade num sentido que falsifica outra ideia tradicional — que podemos detectar a priori se nossas inferências são logicamente válidas” (Boghossian 1992: 13).
E com certeza, isso seria mesmo inquietante. Afinal de contas, o maior interesse (e, possivelmente ao menos, a maior promessa) do externalismo consiste no reconhecimento do impacto da exposição a contextos mutáveis sobre a constituição de conteúdos de pensamento. Isso é precisamente o que explica o interesse despertado, na literatura sobre o externalismo, pelos casos de mudança de contexto, geralmente ilustrados com elaboradas fantasias sobre viagens espaciais entre a Terra e a Terra Gêmea, raptos interplanetários e exercícios similares de ficção científica. Feitas as contas, tais exercícios deveriam ter sido apenas um instrumento para descrever vividamente uma gama de fenômenos muito menos extraordinários que, se o externalismo estiver certo, ocorrem em uma variedade de situações suscitadas pela exposição a diferenças entre contextos em que as capacidades racionais de um mesmo indivíduo devem ser exercidas.
Em todo caso, esse é o contexto do problema de Boghossian sobre externalismo e inferência (Boghossian 1992). O argumento de Boghossian tem a forma de um reductio ad absurdum: a verdade do externalismo implica a possibilidade de erros indetectáveis de raciocínio, devido a alterações imperceptíveis de conteúdos proposicionais. Essa possibilidade colide com a transparência do conteúdo mental (a ‘autoridade da primeira pessoa’); portanto, o externalismo é falso.
Suponhamos que, tendo tido uma infância feliz na Terra, sou um belo dia transportado para a Terra Gêmea. E suponhamos também, como Burge nos convida a fazer, que “as comutações acontecem de modo que o sujeito não esteja ciente delas. A continuidade da vida do sujeito não é obviamente interrompida” (Burge 1988: 115). Eu simplesmente desperto na cama gêmea na Terra Gêmea, e tudo parece estar exatamente como antes. (Não esqueçamos, isso foi estipulado no experimento mental). Com o tempo, de acordo com doxa externalista, meu uso do termo 'água' vem a designar o que a comunidade linguística à qual agora pertenço designa com seu uso: a saber, XYZ. E eis-me aqui, inferindo da conjunção de premissas verdadeiras
-
Eu gostava de brincar na água (=H2O) quando era criança (conteúdo retido na memória)
-
Este copo está cheio de água (=XYZ) (conteúdo adquirido na percepção presente)
a conclusão falsa
- Este copo está cheio do mesmo líquido em que eu gostava de brincar quando era criança.
Pior ainda, a falácia em que incorro não é comparável a uma falácia de equivocação comum, em que uma ambiguidade é negligenciada, e o sujeito está em princípio em condições de detectar e retificar, de maneira puramente a priori, o erro em seu raciocínio. Nos casos de comutações lentas, simplesmente não há nada que o sujeito possa fazer para prevenir ou reparar a irracionalidade, afora empreender uma investigação empírica sobre o ambiente, e sobre sua própria história pessoal.
Pior ainda, dadas as condições estipuladas nas histórias de comutações lentas, é no mínimo obscuro o que poderia constituir uma ‘investigação empírica’ sobre essas coisas. Pois não é como se houvessem traços observáveis — por exemplo, um canhoto de bilhete aéreo da Terra para a Terra Gêmea no bolso interno de um casaco; ou um carimbo da imigração num passaporte; ou uma mensagem do pessoal de casa na caixa de recados de um celular. Os dois mundos são indiscerníveis por estipulação, réplicas exatas (com exceção da única diferença ‘externa’): se não o fossem, não teríamos aprendido nada com essas ficções.
E é assim que a sorte lógica resulta ser, como seu equivalente moral, uma função de pares de contrapartidas indiscerníveis. Eis aqui um raciocínio prima facie correto:
-
Fa
-
Ga
-
∃x (Fx∧Gx)
Acrescentemos índices a nossas constantes não-lógicas, quando mais não seja para assinalar que se trata de duas ocorrências (tokens) distintas do mesmo tipo (type), que não está logicamente garantido sejam correferenciais:
-
Fa1
-
Ga2
-
∃x (Fx∧Gx)
E cá estamos: no Mundo Possível 1, δ(‘a1’)=δ(‘a2’), e a inferência é correta. Seja agora o Mundo Possível 2, onde δ(’a1’)≠δ(‘a2’), e 17-19 é (mais uma vez) uma falácia de equivocação. O problema é que os mundos possíveis 1 e 2 não são como, digamos, o Rio de Janeiro e Recife. Sua diferença é, antes, como aquela que contrasta um mundo em que eu estou “sentado ao pé do fogo, vestido com um chambre, tendo este papel entre as mãos e outras coisas desta natureza” com um mundo que seria um artefato de “certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador que poderoso, que empregou toda sua indústria em enganar-me” (Descartes 1641: 88).[8]
A percepção de que não há muito que as vítimas de comutações lentas possam fazer para detectar as fontes externas de seus lapsos lógicos — uma percepção que me parece estar largamente difundida (ainda que permaneça, a maior parte do tempo, tácita) na literatura — explica a surpreendente prontidão, manifesta igualmente por defensores e adversários do externalismo, a inventar estratégias de exculpação em resposta a esses cenários de infortúnio lógico.
Afinal de contas, a única diferença entre raciocinadores afortunados e desafortunados está, nesses casos, inteiramente fora de seu alcance. Suponho que Boghossian fale pela maioria dos que se ocuparam desses assuntos ao escrever: “Parece-me que há um sentido imediatamente acessível em que não pode haver diferença no que diz respeito à racionalidade entre [os raciocinadores no Mundo Possível 1 e no Mundo Possível 2]. Parece sumamente implausível dizer que eles diferem em sua capacidade de raciocinar” (Boghossian 1992: 27).
Essa é uma avaliação eminentemente plausível, dado o que se supõe que sejam as diferenças entre os dois mundos contrastantes. Não é de surpreender, assim, que as ofertas disponíveis sejam (novamente, com a notável exceção de Sorensen 1998)[9] uma variedade de estratégias de exculpação, concebidas para resguardar a racionalidade do possivelmente desafortunado raciocinador das contingências da mudança de contexto (vejam-se, e.g., Schiffer 1992, Burge 1998, Ludlow 2004, Sosa 2005, Collins 2008).
A estratégia de exculpação internalista recuará, previsivelmente, da paisagem mais ampla e insegura para um domínio interno, também conhecido como conteúdo exíguo (narrow content), blindado contra as contingências externas da causação, do acidente e da sorte. Eis como Boghossian a introduz: “Se, então, também é verdade que há um sentido importante em que o comportamento [do raciocinador] faz sentido do seu ponto de vista, pareceria que temos aqui um argumento em favor da existência de um nível de descrição intencional que preserve esse sentido” (Boghossian 1992: 28).[10]
Algo mais surpreendentes são as exonerações externalistas, dentre as quais é proeminente a concepção ‘anafórica’ da preservação de conteúdo de Schiffer-Burge.[11]
A ideia principal aqui é que a reiteração, em um episódio de pensamento em curso, do conteúdo de um pensamento passado é tornada possível por uma relação de dependência comparável à que existe entre pronomes relativos, e outras expressões anafóricas, e seus antecedentes nas construções linguísticas em que ocorrem. Em ‘Laura estava confiante que ela ganharia o prêmio’, o pronome ‘ela’ designa Laura: seu valor semântico é determinado pelo antecedente anafórico que é o nome próprio — como o valor de uma variável ligada na quantificação de primeira ordem é determinado pelo quantificador que é seu antecedente anafórico. Desse modo, o raciocínio infeliz 11-13 seria reinterpretado como:
-
Eu gostava de brincar na água quando eu era criança.
-
Este copo está cheio d’água↑.
-
Este copo está cheio do mesmo líquido em que eu gostava de brincar quando era criança.
Eu recorro a essa notação, ‘água↑’, para assinalar a dependência anafórica de ‘água’, tal como, por presunção, ocorre na premissa 21, em relação a sua ocorrência na premissa 20. E o resultado é, como esperado, um argumento válido com uma premissa falsa: como ‘água’ em 20 denota H2O (o conteúdo de pensamento sendo provido pela memória preservativa), a premissa 21 equivale ao juízo falso de que o copo na Terra Gêmea está cheio de H2O.
Uma via algo mais surpreendente de exculpação externalista é aberta pela teoria ‘orwelliana’ da memória preservativa proposta por Peter Ludlow. Na teoria de Ludlow, “não é tarefa da memória registrar conteúdos, mas, antes, fornecer informação sobre episódios passados relativa às condições ambientais presentes” (Ludlow 1996: 316).[12] Como no 1984 de Orwell, o passado é reescrito do ponto de vista, e segundo as prioridades, do presente. Assim, quando eu, na Terra Gêmea, lembro de ter brincado na água quando era criança, o conteúdo da minha memória ‘orwelliana’ é o juízo falso de que eu brinquei na água-gêmea (XYZ). O resultado é, novamente, uma inferência válida com uma premissa falsa:
-
Eu gostava de brincar na água (XYZ) quando era criança. (Falso)
-
Este copo está cheio d'água (XYZ). (Verdadeiro).
-
Este copo está cheio do mesmo líquido em que eu gostava de brincar quando era criança. (Falso)
Por certo, todas essas diferentes interpretações acomodam de algum modo o fato de que, como diz Boghossian, o comportamento do raciocinador “faz sentido do seu ponto de vista”. O que não é tão manifesto é a completa ausência, embutida nos próprios termos dos experimentos mentais sobre comutações lentas, de qualquer outra perspectiva da qual o sujeito pudesse tentar avaliar a correção dos seus raciocínios. E essa é minha queixa contra o uso indiscriminado de tantos experimentos mentais na filosofia analítica contemporânea: terminamos por perder de vista o modo como as coisas transcorrem nas situações que nos são mais próximas, e nada aprendemos sobre elas.
A suposição comum subjacente a todas as estratégias de exculpação que examinamos é explicitamente enunciada por David Sosa em um artigo recente e muito esclarecedor: “A ignorância é insuficiente para a incoerência: sujeitos que inferem estão em princípio em condições de evitar a invalidade, seja qual for o estado de seu conhecimento (de fato, sejam verdadeiras ou falsas as premissas em que acreditam)” (Sosa 2005: 219).
Como o leitor atento não terá deixado de notar, uma suposição adicional está em jogo aqui: a saber, que a ignorância é sempre escusável. E isso, como eu enfatizei, faz todo o sentido no cenário fantasioso dos experimentos mentais sobre comutações lentas de ambiente. Lá, de fato, não há virtualmente nada que os sujeitos transportados pudessem fazer para prevenir as falácias de equivocação em que estão expostos a incorrer — de onde o apelo às estratégias de exculpação que passsamos brevemente em revista.
Quando se trata do raciocínio sublunar, em troca, há muita coisa que se espera justificadamente de um sujeito que saiba e leve devidamente em conta. Suponhamos que eu deixo um copo vazio em minha mesa ao sair para cortar o cabelo. Quando volto para casa, uma hora mais tarde, noto que o copo na minha mesa agora está cheio e infiro, por minha conta e risco, que o copo que antes estava vazio agora está cheio. Por minha conta e risco, enfatizo, visto que estou negligenciando a probabilidade de que a faxineira, aproveitando minha ausência para arrumar meu escritório, tenha deixado outro copo, agora cheio, no lugar do copo vazio que levou para lavar. O descaso por essa informação facilmente acessível é comparável à desconsideração do fato, bem conhecido, de que meu vizinho é um criador de cães Golden Retriever, que aumenta a probabilidade de não ter sido o mesmo cão que eu encontrei naquelas duas ocasiões.
Ou então considerem-se, para variar, raciocínios envolvendo os tempos verbais. Posso saber com certeza que Laura está cantando; e, com igual certeza, saber que ela está dançando. Mas inferir, desse par de enunciados verdadeiros, que alguém está cantando e dançando manifesta uma negligência inescusável de fatos bem conhecidos acerca das condições de verdade de proposições temporais.[13]
Quando raciocinamos, pressupomos um monte de coisas, e não temos alternativa. Como Strawson observa laconicamente: “Nossos métodos, ou critérios, de reidentificação devem levar em conta fatos como estes: que nosso campo de observação é limitado; que dormimos; que nos movemos. Em outras palavras, devem levar conta que não podemos, a momento algum, observar o todo do sistema de referência espacial que empregamos; que não há nenhuma parte dele que possamos observar continuamente; e que nós mesmos não ocupamos nele uma posição fixa” (Strawson 1959: 32).
Em t1, vejo um objeto a1 e penso ‘Isto é F’. Em t2 vejo um objeto a2 e penso ‘Isto é G’. Então extraio a conclusão: 'Algo é F e G'. Quando estou autorizado a extraí-la? Por certo, sempre que a1=a2. Mas isso foi por acaso uma premissa tácita, e minha inferência, portanto, um entimema? Por essa via, eu sugeri, chega-se à loucura. Pois suponhamos que
-
Fa1
-
Ga2
não sejam suficientes para inferir ‘∃x(Fx∧Gx)’. Afinal, é preciso garantir que ‘a1’ e ‘a2’ são correferenciais. Isso é, falta a premissa adicional
- δ(‘a1’)=δ(‘a2’)
Mas isso tampouco será suficiente. Pois agora é preciso garantir que as ocorrências de ‘a1’ em 26 e 28 são também correferenciais; e o mesmo vale para as ocorrências de ‘a2’ em 27 e 28. E, a essa altura, é manifesto estamos embarcados em um regresso vicioso ao estilo de Lewis Carroll.[14]
A moral da história é, para não deixar dúvida, que raciocínios sobre objetos mutáveis (raciocínios para os quais pressuposições sobre existência, unicidade ou permanência podem ser cruciais) são um empreendimento essencialmente arriscado, em que estamos fadados a presumir, por nossa conta e risco, um monte de coisas. É isso que nos expõe à sorte lógica, e a medida de nossa responsabilidade será função da escusabilidade de nossa ignorância. O que nos traz à altura em que, como eu sugeri, podemos proveitosamente dirigir-nos à filosofia prática em busca de alguma orientação.
O filósofo do direito H. L. A. Hart abre um ensaio sobre responsabilidade criminal com o seguinte diálogo imaginário: “Eu não queria ter feito isso: eu simplesmente não pensei.” “Mas você devia ter pensado.” (Hart 1961: 136)
Dever implica poder, sem dúvida. Não se trata, em casos como os que Hart examina, de que não houvesse nada que os réus pudessem ter feito para evitar o infortúnio. Antes: o que de facto escapa ao controle do sujeito estaria sob seu pleno controle em mundos possíveis suficientemente próximos (e, além disso, epistemicamente acessíveis); e é por isso que está de iure sob seu controle no mundo como ele é (o mundo, seja-me relevado o anglicismo, ‘atual’). O dono de uma casa em ruínas pode, de facto, ignorar que o teto está prestes a desabar. Mas esse seria um caso manifesto de ignorância inescusável. A informação relevante estava ao alcance da mão; bastava que ele tivesse o zelo de buscá-la.
Em casos como esses, a informação que de facto falta ao sujeito está disponível: o sujeito saberia o que ignora se não o tivesse negligenciado. Não é essa a situação naqueles cenários de vitimização metafísica, as comutações lentas de ambiente — de onde as estratégias de exculpação de que eu me queixava.
Numa passagem que é talvez a mais lapidar introdução ao conceito de ignorância inescusável, Wittgenstein escreve: “Que eu sou homem e não mulher pode ser verificado, mas se eu dissesse que era mulher e depois quisesse explicar o erro alegando que não testei a afirmação, a explicação não seria aceita” (Wittgenstein 1969, § 79).
A epistemologia, aí incluída a epistemologia do raciocínio, tem sido, ao longo da maior parte da sua história, essa disciplina neurastênica em que persistimos em perguntar se e (só depois) como podemos conhecer alguma coisa. Se eu estiver certo, do que mais precisamos é de uma mudança de rumo. Não sou o primeiro a clamar por ela: “As questões interessantes sobre conhecimento, uma vez que abandonamos a tentativa de caracterizá-lo como um tipo de crença que satisfaz certas condições, dizem respeito ao que de todo mundo, ou de todo mundo em certas culturas, se pode esperar que saiba uma vez que é adulto e razoavelmente competente; e à relação entre certas alegações de conhecimento e perguntas como: ‘Como você sabe?’” (Anscombe 1993: 32).
Quase tudo está por fazer na agenda de uma epistemologia que, em vez dessa pergunta estéril ‘O que podemos saber?’, comece pelo que realmente importa: o que não temos o direito de não saber? Como quer que essa agenda venha a ser executada, o principal resultado do presente exercício deve ser tomado como um lema: ao contrário do que pretende a doxa compatibilista, esse externalismo light que hoje nos é servido um pouco em toda parte, a ‘transparência do conteúdo mental’ é um mito, e reconhecê-lo tem consequências para a epistemologia do raciocínio, diante das quais devemos aprender a não recuar. Em qualquer caso, como nota Timothy Williamson, não temos nenhuma alternativa.[15] Raciocinar é arriscado, como virtualmente tudo mais em nossas vidas cognitivas (como tudo mais em nossas vidas) — e podemos viver com isso.[16],[17]
Referências
Anscombe, G. E. M. (1993) “Knowledge and essence”. In: Josep-María Terricabras (ed.), A Wittgenstein symposium (Amsterdam: Rodopi): 29-35. Amzn
Boghossian, Paul A. (1992). “Externalism and inference”, Philosophical Issues 2: 11-28.
Burge, Tyler. (1988) “Individualism and self-knowledge”, Journal of Philosophy 85: 649-663, reimpresso em: Ludlow & Martin (1998): 111-127.
Burge, Tyler (1998). “Memory and self-knowledge”, em: Ludlow & Martin (1998): 351-370.
Campbell, John. (1987) “Is sense transparent?”, Proceedings of the Aristotelian Society 88 (1987/1988): 273-92.
Campbell, John. (1994) Past, space, and self (Cambridge, Mass.: MIT Press). Internet Archive, Amzn
Collins, John. (2008) “Content externalism and brute logical error', Canadian Journal of Philosophy 38: 549-574.
Descartes, René. (1641) Meditações concernentes à Primeira Filosofia, nas quais a existência de Deus e a distinção real entre a alma e o corpo do homem são demonstradas, tradução de J. Guinsburg e Bento Prado Jr. (São Paulo: Abril S. A. Cultural e Industrial, 1973). Internet Archive
Falvey, Kevin. (2003) “Memory and knowledge of content”, em: Susana Nuccetelli, ed. (2003), New essays on semantic externalism and self-knowledge (Cambridge, Mass.: MIT Press): 219-240. Internet Archive, Amzn
Faria, Paulo (2009). “Unsafe reasoning: a survey”, Dois Pontos 6: 185-220.
Hart, H. L. A. (1961) “Negligence, mens rea and criminal responsibility”, Oxford Essays in Jurisprudence, reimpresso em: Punishment and responsibility: essays in the philosophy of law (Oxford: Clarendon Press, 1968): 136-157. Internet Archive, Amzn
Hegel, G. W. F. (1831) Science of logic, transl. A. V. Miller, preface by J. N. Findlay (London: Routledge, 2004). Internet Archive
Ludlow, Peter. (1998) “Social externalism and memory: a problem?”, Acta Analytica 14, reimpresso em: Ludlow & Martin (1998): 311-317.
Ludlow, Peter. (2004) “What was I thinking? Social externalism and shifting memory targets”, em: R. Shantz (ed.), The externalist challenge (Berlin: de Gruyter): 419-426. Amzn
Ludlow, Peter, & Martin, Norah, eds. (1998) Externalism and self-knowledge (Stanford: CSLI Publications). Amzn
Nagel, Thomas. (1976) “Moral luck”, Proceedings of the Aristotelian Society, supplementary volume 50, reimpresso em: Mortal questions (Cambridge: Cambridge University Press, 1979): 24-38.
Quine, W. V. (1953) “Reference and modality', em: From a logical point of view, 2nd ed. (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980): 139-159. Internet Archive, Amzn
Schiffer, Stephen. (1992) “Boghossian on externalism and inference”, Philosophical Issues 2: 29-38
Silva Filho, Waldomiro José da. (2006) “O autoconhecimento, o narrador onisciente, a vida comum”, Philósophos 11: 287-303.
Sorensen, Roy A. (1998) “Logical luck”, Philosophical Quarterly 48: 319-334.
Sosa, David. (2005) “The inference that leaves something to chance”, em: Sanford Goldberg (ed.), Internalism and externalism in semantics and epistemology (Oxford: Oxford University Press): 219-234. Amzn
Strawson, P. F. (1959) Individuals: an essay in descriptive metaphysics (London: Routledge). Internet Archive, Amzn
Williams, Bernard. (1976) “Moral luck', Proceedings of the Aristotelian Society, supplementary volume 50, reimpresso em Moral Luck (Cambridge: Cambridge University Press): 20-39. Amzn
Williamson, Timothy. (1997) “Sense, validity and context”, Philosophy and Phenomenological Research 58: 649-654.
Williamson, Timothy. (2000) Knowledge and its limits (Oxford: Oxford University Press). Internet Archive, Amzn
Wittgenstein, Ludwig. (1969) Über Gewissheit, em: Werkausgabe, Band 8 (Frankfurt: Suhrkamp, 1989). Internet Archive, Amzn
Veja-se o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” [Itálicos acrescentados por mim, PF.] ↩︎
“Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.” É o refrão do ‘Segundo Final’ (‘Zweites Dreigroschen-Finale’) da Ópera dos Três Vinténs (Die Dreigroschenoper) de Brecht e Kurt Weill (1928). ↩︎
Nota acrescentada na revisão (22/04/2019). Depois de ler Reference and existence de Kripke, estou menos seguro de que essa não é uma inferência válida (ver Saul A. Kripke, Reference and existence: the John Locke lectures (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 55-83). O leitor fica convidado a contornar as dificuldades envolvidas na ontologia (se há tal coisa) de objetos ficcionais trocando Stendhal por Mallarmé (no “Sonnet allégorique de lui-même”), e substituindo ‘Vanina’ por ‘Ptyx’, que (como era intenção do poeta) não significa nada mesmo. ↩︎
Ressalvada a pressuposição ’transcendental’ (no sentido de Wittgenstein) a que poderíamos estar tentados a dar expressão proferindo o contrassenso (Unsinn) ‘Existem objetos’ (ou ‘O mundo existe’): ver Tractatus 6.124. [Nota acrescentada na revisão, 22/04/2019] ↩︎
No original: “that way madness lies” (Shakespeare, King Lear, III.4). ↩︎
E aqui está, para efeito de comparação, a história de Burge: o sujeito pensa que a lesão na sua coxa é artrite. No Mundo Possível 1, ‘artrite’ denota uma inflamação nas articulações (e o sujeito tem uma crença falsa). No Mundo Possível 2, ‘artrite’ denota uma variedade de doenças reumatoides (e o sujeito tem uma crença verdadeira). Novamente, os dois mundos possíveis são indiscerníveis da ‘perspectiva da primeira pessoa’. ↩︎
Que experimentos mentais são estipulações; que essas estipulações são tais que normalmente resultará que nós, que as fazemos, saberemos um monte de coisas que estipulamos que seus protagonistas ignoram: essas observações importantes foram, como assinalou um parecerista anônimo vigorosamente articuladas em Silva Filho 2006, cuja leitura recomendo ao leitor. Onde eu receio apartar-me de Silva Filho é em minha relutância em pensar que os artifícios de um ‘narrador omnisciente’ devam lançar suspeita sobre a metodologia dos experimentos mentais externalistas (ou, a propósito, de qualquer experimento mental). Não há nada de errado em estipular mundos possíveis, não importa o quão exóticos, e não há nada a deplorar em omnisciências que são artefatos do jogo de estipulação tanto quanto, digamos, a ignorância dos protagonistas das comutações lentas de ambiente (slow switching) acerca de seu entorno. Eu não tenho nenhum problema com a omnisciência do narrador; o que me incomoda é a sua quase inevitável indulgência lógica: novamente, não haja dúvida, um artefato do modo como a história é contada. ↩︎
Honni soit qui mal y pense! Espero examinar mais de perto essas ligações perigosas em outra ocasião. ↩︎
[Nota acrescentada na revisão, 22/04/2019]: Hoje eu acrescentaria, ao nome de Sorensen, os de Timothy Williamson e Ruth Millikan (ver meu livro Time, thought, and vulnerability, Editora da Universidade de Buenos Aires/SADAF); e, além desses, ainda os de Laura Schroeter (com algumas ressalvas); e, por fim (com muitas ressalvas), o de Mikkel Gerken. Nosso partido minoritário (ao qual vem juntar-se Roberto Horácio de Sá Pereira num trabalho ainda inédito) está crescendo. ↩︎
A manobra é comparável ao confinamento do domínio próprio de avaliação moral ao âmbito interno em que uma vontade pura opera por si mesma, igualmente resguardada dos azares da causação, da contingência e da sorte, na filosofia prática de Kant. Ver, a esse respeito, as observações penetrantes de Bernard Williams em Williams 1976. ↩︎
Veja Schiffer 1992, Burge 1998. ↩︎
A teoria é retomada e articulada em Ludlow 2004. ↩︎
“Nossa prática inferencial tira partido de uma conveniente insensibilidade ao contexto específico dos nossos juízos. Um resultado disso é que às vezes nos encrencamos. Um exemplo pode ser a tendência filosófica a supor que a mudança é contraditória: a disposição a conectar inferencialmente juízos (...) pode transbordar na inferência, a partir do juízo verdadeiro ‘Judy está dançando’ e do juízo verdadeiro um segundo depois ‘Judy não está dançando’, do juízo autocontraditório ‘alguém está dançando e não está dançando’.” (Williamson 1997: 652-3) ↩︎
Crédito pelo argumento: John Campbell (ver Campbell 1987; e, para uma breve reapresentação, Campbell 1994: 75-6). ↩︎
“A acessibilidade imperfeita da racionalidade lança luz sobre a individuação externa do conteúdo mental (...). Pois a racionalidade tem certa relação com a lógica dedutiva, embora a relação não seja fácil de articular, e a individuação externa do conteúdo torna a validade dedutiva de inferências imperfeitamente acessível.” (Williamson 2000: 16) ↩︎
[Nota acrescentada na revisão, 23/04/2019]. Este último parágrafo, que não constava da versão original em inglês, foi acrescentado por ocasião da tradução deste artigo por Giovanni Rolla, em 2012. ↩︎
Versões anteriores deste artigo foram apresentadas em Porto Alegre, no colóquio de Porto Alegre ‘Semântica e Cognição’ (UFRGS, julho de 2009) e em Fortaleza, no colóquio internacional ‘Thought experiments and the a priori’ (UFCE, agosto de 2009). Agradeço a meus ouvintes em ambos os eventos por suas reações. Sou particularmente grato a André J. Abath e Rogério Severo (em Porto Alegre), e a Ernest Sosa, Christopher Hill, Jonathan Ichikawa, Anand Vaidya, Albert Casullo e Jens Kipper (em Fortaleza) por seus comentários. Minha gratidão estende-se aos estudantes que assistiram a um seminário de pós-graduação sobre Dinâmica Cognitiva que ministrei na UFRGS em 2009; a um parecerista anônimo que, muito agudamente, identificou a tarefa mais premente com relação à qual permaneço um devedor insolvente (a saber, ir além de meu apelo vago, e manifestamente insuficiente, à noção de ‘mundos possíveis epistemicamente acessíveis’ ao articular critérios para a inescusabilidade da ignorância); e, por fim, mas não menos, ao editor deste número especial Dois Pontos, André Porto, pela paciência e bom humor constantes com que com lidou com minha inadimplência em cumprir prazos sucessivamente renovados de submissão. ↩︎
Arquipélago Filosófico, Vol. 1, No. 17 (2025), e-017
ISSN 3086-1136