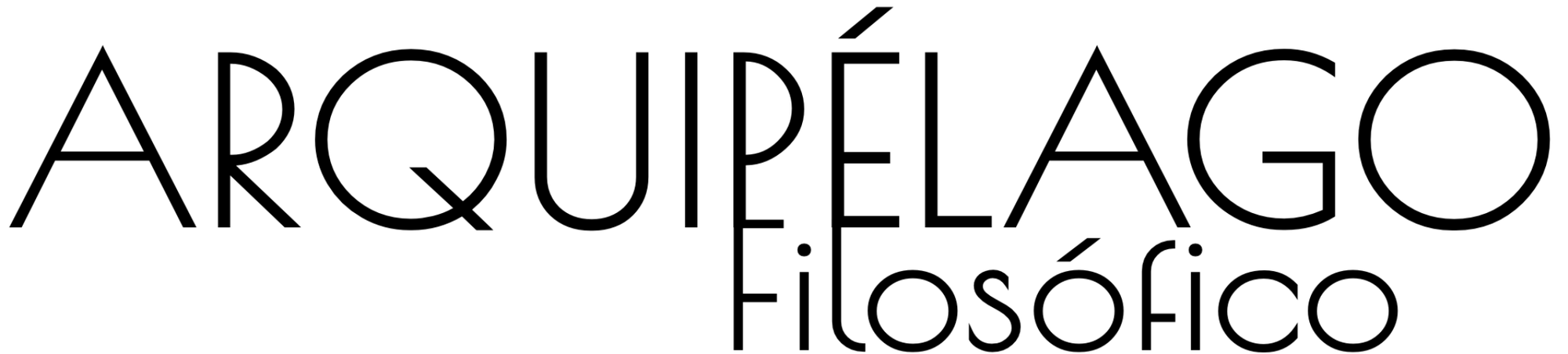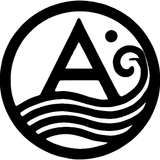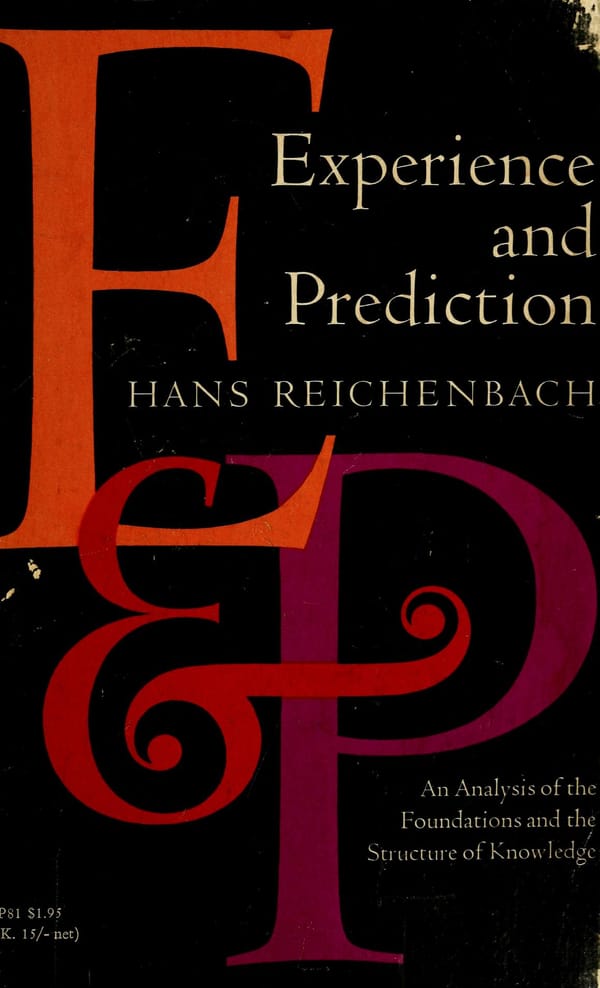Paulo Faria, Provar e mostrar
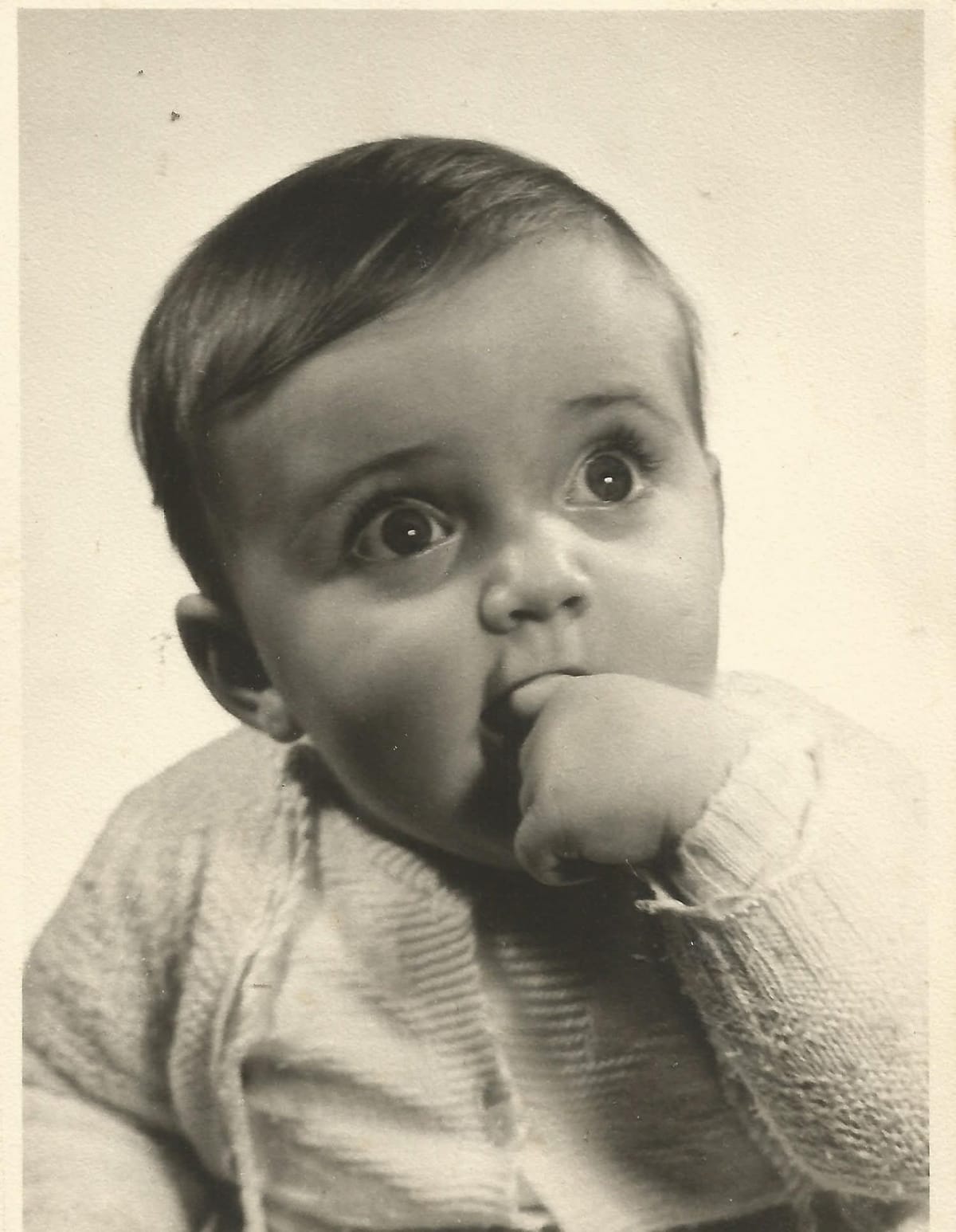
Texto originalmente publicado na coletânea Racionalidade e ação, org. por Valerio Rohden (Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 1992), pp. 179-206. Paulo Francisco Estrella Faria é professor titular do Departamento de Filosofia da UFRGS e autor do livro Time, thought, and vulnerability: an inquiry in cognitive dynamics (SADAF, 2021) [Amzn].
Provar e mostrar
Paulo Faria (UFRGS)
Mostrar-que e mostrar-algo
Há um nexo conceitual entre prova e exibição. Isso é certificado pela etimologia da palavra ‘demonstrar’, mas também pelo uso quotidiano dos verbos ‘provar’ e ‘mostrar’. Tanto posso dizer ‘Lavoisier provou que o peso dos metais é maior após a combustão’ como ‘Lavoisier mostrou que o peso dos metais é maior após a combustão’. Em tais contextos, ‘provar’ e ‘mostrar’ são, simplesmente, sinônimos.
Em outros contextos, porém, esse nexo tende a afrouxar-se, e por fim há muitos em que ele simplesmente desaparece. Um exemplo desses últimos: mostro a um visitante as flores que desabrocharam no jardim. Não está em questão, agora, fazer prova de coisa alguma — mesmo se, movido pela vaidade, recorri a esse expediente para dar a conhecer ao hóspede minha perícia como jardineiro. Também pode ser que eu apenas estivesse a fazer as honras da casa.
A diferença entre os dois exemplos é, por outro lado, uma diferença gramatical entre dois usos de ‘mostrar’: no primeiro exemplo, temos uma instanciação da forma ‘mostrar que (tal-e-tal é o caso)’; no segundo, da forma ‘mostrar (algo)’. Poderíamos chamar à primeira variedade ‘mostrar proposicional’; à segunda, ‘mostrar não proposicional’ ou ‘objetual’; mas essa terminologia é enganosa. Eu vou falar, simplesmente, em ‘mostrar-que’ e ‘mostrar-algo’.
Gramaticalmente, os casos em que ‘mostrar’ e ‘provar’ são intersubstituíveis são, como meu primeiro exemplo, casos de mostrar-que. Mas, como sugeri, há casos intermediários entre meus dois exemplos, que envolvem algum tipo de relação mais complicada entre os dois conceitos. Eu penso, em particular, nas situações em que mostrar-algo é um meio de prova — um modo de mostrar-que. Esses casos são interessantes porque neles, embora o que se quer provar possa ser, e normalmente seja, expresso linguisticamente, a prova, como tal, tem uma estrutura que é apenas parcialmente linguística. O caso paradigmático, aqui, é a exibição de objetos físicos, quando este recurso é empregado como meio de decidir uma controvérsia cognitiva.
Suponha que eu tivesse feito uma aposta com meu vizinho: ele me garantia que certa variedade de orquídeas jamais se adaptaria ao clima local e, em consequência, nunca daria flores. Nessa circunstância, a apresentação de uma muda da variedade em questão cumpre uma função particular (e, sob certas condições, privilegiada) na decisão de nossa disputa: normalmente, bastará para encerrá-la.
É claro que a discussão poderia ser reaberta: talvez meu vizinho desejasse certificar-se de que essa muda foi realmente plantada e cultivada em nosso clima.[1] Nesse caso, ele poderia ser convidado a uma nova visita dentro de uma ou duas semanas. Mas, em circunstâncias normais, a mera exibição da planta tenderia a encerrar conclusivamente a controvérsia: e, o que é mais, em condições ideais. Com efeito, que prova melhor poderíamos conceber nesse caso?
Ou então, pense na exibição do corpus delicti no contexto de uma investigação criminal. Creio que não preciso multiplicar exemplos: para uma grande variedade de proposições, a melhor prova que podemos fazer é um caso de mostrar-algo.
Ora, tudo isso é perfeitamente trivial, mas tem pelo menos uma consequência filosoficamente interessante: a saber, que nem toda prova é um argumento, ao menos no sentido usual do termo — algo constituído por premissas, uma conclusão e (tratando-se de um argumento válido) uma relação de certo tipo entre premissas e conclusão. Essa relação pode ser caracterizada de diversas maneiras — eu não estou pensando necessariamente em argumentos dedutivos. O que é decisivo é saber o pode ser termo de tal relação: em suma, o que são premissas e conclusões. De acordo com a caracterização usual, diríamos que são sentenças: um argumento é composto por sentenças; um argumento válido, por sentenças que estão em uma relação de certo tipo. Por certo, alguns filósofos poderão preferir, a essa caracterização linguística, uma outra — em termos, por exemplo, de significados ou conteúdos de sentenças: dirão, então, que um argumento é composto por proposições. Seja como for, em qualquer das duas alternativas — mas, sobretudo, vale a pena assinalar, na primeira — teremos dificuldade em acomodar, em nossa concepção de um argumento, coisas como gestos ou outras ações extralinguísticas.[2]
Há, por certo, uma saída fácil — talvez fácil demais, porém. Podemos oferecer uma paráfrase linguística do mostrar-algo (ostensão, exibição ou o que seja), de modo a incorporá-lo explicitamente ao que, então, estaremos em condições de caracterizar como um argumento. Assim, o gesto pelo qual apresentei a meus visitantes as flores do jardim seria “traduzido” por algo como:
“Aí está uma orquídea da variedade x”![3]
E o resto do argumento poderia prosseguir assim:
“Nenhuma orquídea estaria aí se não estivesse adaptada ao clima local.”
“Logo, a orquídea da variedade x está adaptada ao clima local.”
A questão é saber se isso equivale à prova original. E a resposta, parece-me, deve ser: positivamente não. Isso fica evidente se considerarmos que, confrontados com esse argumento, sempre poderíamos solicitar uma prova de sua primeira premissa. Em troca, a prova original tinha isso de peculiar, que nela eu só chegava a provar o que pretendia (que as orquídeas da variedade x estão adaptadas ao clima local) por meio de um recurso, ausente do novo argumento, e todavia capaz de constituir a melhor prova de sua primeira premissa: a apresentação do objeto referido. Como você sabe que no jardim há uma orquídea da variedade x? ‘Veja: aqui está uma’ — e o gesto de ostensão cumpre, agora, a função dessas ‘antenas’ que, na imagem de Wittgenstein, ligam o que dizemos com a realidade.
Essas considerações não são motivadas por um especial apego à obsessão positivista, agora tão desacreditada, pela definição ostensiva e outros paradigmas da “certeza sensível”, nem mesmo pelo interesse no exame das provas empíricas em que a ostensão cumpre um papel fundamental, mas pelo interesse em reavaliar o conceito de uma prova filosófica.
Não é fácil saber que espécie de coisa (se é que alguma) deveria ser objeto de prova em filosofia; menos ainda, que procedimentos de prova estariam disponíveis nessa disciplina. Nos últimos vinte anos, por exemplo, discutiu-se muito sobre certos argumentos, ditos ‘transcendentais’, dos quais se supôs que constituiriam uma variedade caracteristicamente filosófica de provas. Infelizmente, pouco avanço se fez no sentido de caracterizar de maneira satisfatória as propriedades lógicas desses argumentos, menos ainda seus critérios de validade.[4]
Eu não pretendo estar em condições de caracterizar a validade de um argumento transcendental, nem estou certo de que isso possa ser feito (e por uma boa razão: eu não estou seguro de conhecer algum exemplo de argumento transcendental válido). Mas talvez seja possível esboçar uma explicação para o fato de essa tarefa se ter mostrado tão difícil.
No que segue, tentarei esboçar uma analogia (ou algo mais: de fato, argumentarei que não se trata apenas de uma analogia) entre mostrar-algo e o modo pelo qual, no curso de um argumento filosófico, certificamos a existência de certa relação entre dois ou mais conceitos. Essa será a via pela qual arriscarei uma sugestão sobre a natureza das dificuldades em que, vez por outra, se enreda a “teoria do conhecimento”, ao sucumbir à ilusão recorrente de acertar contas, através do oferecimento de uma prova, com seu Outro: o ceticismo.
Provar e mostrar: G. E. Moore
Seja, por exemplo, a “Prova de um mundo exterior” de G. E. Moore. Parece evidente que, meio século depois de sua divulgação, e em um clima de opinião profundamente modificado, esse singular morceau de bravoure filosófico tem menos chances que nunca de circular como artigo de primeira no mercado das ideias. A avaliação predominante no mundo filosófico contemporâneo parece ser, antes, que a prova de Moore, na medida em que mereça alguma atenção, é da espécie de atenção devida aos exemplos negativos: se tanto, o feito de Moore instruiria como um exemplo do que não se deve fazer no tratamento de um problema filosófico.
Essa desqualificação, e a confiança com que é proclamada, deveriam, entretanto, despertar suspeitas. Tudo se passa como se elas estivessem obviamente justificadas: como se a certeza de que essa não é a maneira adequada de resolver um problema como o que Moore discute estivesse preparada para “exibir suas credenciais”, como diria Kant. Isso, entretanto, suporia, da parte dos filósofos que recusam Moore, a capacidade de indicarem com clareza em que consiste um problema filosófico e qual é seu modo próprio de tratamento. Ora, essa condição raramente está satisfeita.
Uma indicação sobre a natureza da dificuldade é fornecida por uma observação de Barry Stroud, em sua contribuição ao simpósio de Bielefeld sobre os argumentos transcendentais (Stroud 1979). Comentando a prova de Moore, Stroud assinala a dificuldade evidente, para qualquer pessoa com ‘alguma compreensão da exigência filosófica de uma prova da existência de coisas fora de nós’, de julgar a contribuição de Moore filosoficamente bem-sucedida; mas também assinala, o que é menos evidente e provavelmente mais importante, a dificuldade de explicar, ‘acurada e esclarecedoramente’, como e por que essa tentativa fracassa (Stroud 1979: 279).
O que segue pode ser lido como o esboço de uma resposta a essa pergunta.[5]
Como se sabe, a “Prova de um mundo exterior” é oferecida como uma resposta ao ‘escândalo da filosofia’ invocado por Kant no Prefácio à Segunda Edição da Crítica da razão pura. Segundo Kant,
permanece um escândalo para a filosofia, e para o senso comum em geral, que se admita apenas a título de crença a existência de coisas fora de nós (...) e que não se possa contrapor uma prova suficiente a quem se lembrar de a por em dúvida. (Kant 1787: B XXXIX nota.)
Como observa Moore, embora as palavras de Kant, tomadas literalmente, pareçam implicar que tal prova ainda não foi obtida, Kant certamente tem a convicção de havê-la encontrado. Na frase imediatamente precedente, Kant afirma que o único acréscimo genuíno feito na segunda edição
é aquele pelo qual fiz uma refutação nova do idealismo psicológico e dei uma prova (a única possível, segundo creio) da realidade objetiva da intuição externa. (Ib.)
E, assinala Moore,
o contexto não deixa dúvida de que ele está usando essas duas expressões, ‘realidade objetiva da intuição externa’ e ‘existência de coisas (ou das coisas) fora de nós’, de tal modo que o que quer que seja uma prova da primeira, é também, necessariamente, uma prova da segunda. (Moore 1939: 128.)
Assim, o que Kant está realmente dizendo é que o estado de coisas que ele qualificou como um escândalo para a filosofia chegou a seu fim.
Se fosse, portanto, certo que a prova oferecida por Kant na segunda edição é uma prova satisfatória, seria certo que ao menos uma prova satisfatória da existência de coisas fora de nós pode ser oferecida. Nesse caso, o que restaria da questão: ‘que espécie de prova, se é que alguma, poderia ser feita da existência de coisas fora de nós?’ seriam estas outras duas: (I) que espécie de prova é a prova de Kant; (II) se (pace Kant) podem haver outras provas, do mesmo ou de outro tipo, igualmente satisfatórias.
Para Moore, entretanto, ‘não é de modo algum certo que a prova de Kant é satisfatória’, e, portanto, ‘não é de modo algum certo que ele teve sucesso em remover de uma vez por todas o estado de coisas que considerou um escândalo para a filosofia’ (Moore 1939: 128).
Pelo menos um dos motivos desse juízo negativo é apresentado e discutido, ainda que sumariamente, por Moore. Trata-se de sua insatisfação com a ambiguidade do conceito kantiano de um objeto externo — e com a dualidade ‘empírico/transcendental’ que subjaz a essa ambiguidade (cf. Moore 1939: 129-30). A insatisfação motiva a detalhada discussão a que Moore submete o quid demonstrandum: essa espécie de “limpeza de terreno” preliminar, destinada a estabelecer uma interpretação unívoca para o conceito de ‘coisas fora de nós’ — a espécie de coisas cuja existência deve ser objeto de prova. De acordo com a interpretação finalmente proposta por Moore, o traço definitório deve ser buscado na caracterização das relações entre esse e percipi: coisas fora de nós são coisas tais que, do fato de que uma dessas coisas existe, não se segue que, em nenhum sentido, essa coisa é percebida ou integra a experiência de alguém (Moore 1939: 143).
Aparentemente, Moore considera esse parco resultado suficiente para afastar a ambiguidade que, a seu juízo, compromete a tentativa de Kant. Será, portanto, instrutivo constatar, se for o caso, que uma forma dessa ambiguidade subsiste na prova de Moore — mesmo se modificada e deslocada (como tentarei mostrar) da caracterização do objeto da prova (a existência de ‘coisas fora de nós’) para a caracterização de sua estrutura.
Como veremos, das observações pelas quais Moore pretende estabelecer o sucesso de sua prova é possível extrair o reconhecimento simultâneo de que (I) essa prova é um exemplo de uma classe de provas perfeitamente legítimas, através das quais estabelecemos, na vida quotidiana, a existência de objetos materiais, e (II) essa espécie de prova, todavia, ainda quando irrepreensivelmente realizada, não é apta a satisfazer o filósofo que pergunta pela existência do mundo exterior. A dificuldade decorrente dessa caracterização expressa-se em uma reveladora indefinição a respeito do papel que a exibição (no sentido de mostrar-algo) desempenha na estrutura da prova. A hesitação de Moore a este respeito fornecerá a via pela qual retornaremos, adiante, à pergunta sobre o que é para a filosofia um escândalo — e, com ela, à pergunta sobre a espécie de prova que seria suscetível (se é que alguma o seria) de pôr fim a escândalos dessa espécie.
A estratégia de Moore apoia-se na caracterização lógica ‘standard’ da existência como um predicado de segunda ordem: a prova de existência de um par de coisas a e b é necessariamente, e só pode ser, uma prova de não-vacuidade da extensão de um predicado F tal que Fa e Fb. Se eu provar que existem pelo menos dois trevos de quatro folhas, terei provado, ipso facto, que existem trevos de quatro folhas. Mas terei provado outras coisas ainda: pois a prova da não-vacuidade da extensão de um predicado é, ipso facto, uma prova da não-vacuidade da extensão de qualquer predicado ao qual aquele esteja subordinado. Se eu provar que existem pelo menos dois trevos de quatro folhas, também terei provado que existem pelo menos duas plantas, etc. Provar a existência de ‘coisas fora de nós’ será, nesta perspectiva, provar a existência de uma ou algumas coisas às quais convém o predicado ‘fora de nós’: um par de sapatos, por exemplo.
Dessa caracterização da espécie de prova pretendida segue-se, de modo natural, a rejeição da pretensão de unicidade reivindicada por Kant para sua prova:
Parece-me que, longe de ser verdadeiro, como Kant queria, que só há uma prova possível da existência de coisas fora de nós, a saber, a que ele deu, posso agora dar um grande número de provas diferentes, cada uma das quais é uma prova perfeitamente rigorosa; e que em muitas outras ocasiões estive em condições de dar muitas outras. (Moore 1939: 145.)
Assim, a prova oferecida por Moore o é como um exemplo da espécie de prova que se pode dar da ‘existência de coisas fora de nós’. Não será, em consequência, impróprio avaliar essa prova, em primeiro lugar, em termos de sua representatividade. Deveríamos, então, perguntar que espécie de coisas provamos deste modo:
Posso provar agora, por exemplo, que duas mãos humanas existem. Como? Erguendo minhas duas mãos e dizendo, enquanto faço um certo gesto com a mão direita, ‘Aqui está uma mão’ e acrescentando, enquanto faço um certo gesto com a esquerda, ‘e aqui está outra’. E se, ao fazê-lo, eu provei ipso facto a existência de coisas exteriores, todos vocês perceberão que eu também posso fazê-lo de um sem número de outras maneiras: não há necessidade de multiplicar exemplos. (Moore 1939: 145-6.)
E isso é, notoriamente, tudo — e para nós recém começam, aqui, as dificuldades. Por que essa prova não nos convence? O que há de errado com ela? Pois, se uma prova não nos convence, algo deve estar errado com ela; ou não? O que é, afinal, uma prova filosófica?
Segundo Moore, naturalmente, não há nada errado com sua prova. Justamente para mostrar que essa foi uma prova ‘perfeitamente rigorosa’, e que é ‘talvez impossível oferecer uma prova melhor ou mais rigorosa do que quer que seja’, Moore examina um conjunto de condições de adequação para uma boa prova, empenhando-se em mostrar que sua prova satisfaz cada uma dessas condições.
O que é muito estranho, entretanto, é que precisamente o exame dessas condições gerais terminará por fazer parecer problemática, por razões que o próprio Moore se encarrega de apresentar, a alegada representatividade da prova oferecida.
Como vimos, uma dificuldade para o tratamento filosófico do conceito de prova é a suposição generalizada de que uma prova deve ter a estrutura de um argumento (no sentido caracterizado na nota 2). Não é surpreendente que, também para Moore, uma condição necessária (posto que não suficiente) para que alguma coisa seja uma boa prova é que essa coisa seja um argumento (dedutivamente) válido. O que Moore pede de uma boa prova é:
a) que ela não seja circular, e isso significa: que ela tenha premissas e conclusão, e que sua conclusão seja diferente das premissas;
b) que suas premissas sejam certas; isto é, elas não devem ser admitidas apenas por suposição;
c) que as premissas impliquem a conclusão.
Moore, evidentemente, pretende que todas essas condições estejam satisfeitas pela prova apresentada. Em primeiro lugar, é certo que essa prova não é um argumento circular: pois o que é afirmado em sua conclusão (‘Existem duas mãos humanas’) não é, de modo algum, o mesmo que é afirmado nas premissas (‘Aqui está uma mão’ e ‘Aqui está outra’): a conclusão poderia ser verdadeira ainda que as premissas fossem falsas. Em segundo lugar, Moore não está limitado a crer, ou admitir por suposição, que essas premissas, ‘Aqui está uma mão’ e ‘Aqui está outra’, são verdadeiras. Ao contrário, trata-se de coisas que ele sabe, e só por isso podem constituir fundamentos de prova. Por último, é inequívoco que a conclusão é implicada pelas premissas — pois, embora aquela possa ser verdadeira ainda que estas sejam falsas, não é possível, em troca, que estas sejam verdadeiras e aquela falsa (Moore 1939: 148).
E, no entanto, Moore está perfeitamente ciente de que muitos filósofos estarão inclinados a recusar sua prova, de modo algum admitindo que um “escândalo da filosofia” possa ser contornado dessa maneira expeditiva.
Mas, se essa prova, posto que sem ser ‘a única possível’, é de fato, como Moore pretende, um exemplo legítimo da espécie de prova adequada, a questão remanescente passa a ser de natureza muito diversa daquela que (ostensivamente, ao menos) motivara a reflexão de Moore. O que nesta perspectiva parece resultar problemático é, antes, a acolhida que, Moore não o ignora, está reservada para seu “resultado”. Pois ele não alimenta ilusões sobre o poder de persuasão dessa prova junto à comunidade filosófica; muito pelo contrário: ‘estou perfeitamente consciente de que, apesar de tudo o que eu disse, muitos filósofos ainda sentirão que eu não dei nenhuma prova satisfatória do ponto em questão’ (Moore 1939: 148).
É difícil resistir à tentação de perguntar, à leitura dessas palavras, por que Moore oferece uma prova que ele sabe, de antemão, condenada a não convencer ‘muitos filósofos’ — possivelmente, aqueles mesmos que mais precisavam ser convencidos. Mas essa tentação deve, por ora, ser resistida. Nada de proveitoso pode ser feito de uma pergunta dessas enquanto a insatisfação filosófica, que parece condenar a tentativa de Moore à irrelevância, não for examinada com mais atenção. A esse respeito, vale a pena atentar para o que o próprio Moore tem a dizer.
A crer em Moore, pelo menos dois motivos diferentes podem ser indicados para a insatisfação dos filósofos com sua prova. Em primeiro lugar, essa gente está inclinada a esperar, do que entende por uma ‘prova de um mundo exterior’, que inclua uma prova de coisas que Moore não tentou provar; e, em segundo lugar, está (por isso mesmo) inclinada a julgar que, na ausência de uma tal prova suplementar, a tentativa deve ser considerada fracassada.
Com relação ao primeiro ponto, Moore admite ter dificuldade para indicar o que, exatamente, “deveria” ter sido provado — ou, como ele diz, ‘o que é que é tal que, a menos que tivessem uma prova disso, não diriam que tiveram uma prova da existência de coisas exteriores’ (Moore 1939: 149).
E, no entanto, sua tentativa de caracterizar, aproximadamente, essa lacuna aponta em uma direção perfeitamente previsível. O que está em jogo é, obviamente, a certeza das premissas de sua prova:
se eu tivesse provado as proposições que usei como premissas (...), então talvez admitissem que eu provei a existência de coisas externas, mas, na ausência de uma tal prova (que, por certo, eu não dei nem tentei dar), dirão que eu não dei o que entendem por uma prova da existência de coisas externas. (Moore 1939: 149)
A prova que Moore ‘não deu nem tentou dar’ é, portanto, ‘uma prova do que eu afirmo agora quando ergo minhas mãos e digo “Aqui está uma mão, e aqui está outra”’ (Ib.).
Mas talvez não seja exatamente isso. Ou, pelo menos, não só isso. Moore, em todo caso, está consciente do fato de que aquilo que o filósofo tipicamente pediria não seria a prova dessas proposições particulares:
o que eles realmente querem não é apenas uma prova dessas duas proposições, mas algo como uma declaração (statement) geral sobre como quaisquer proposições desse tipo podem ser provadas. (Ib.)
Mas isso Moore não apresentou nem acredita que poderia ter apresentado: se isso é o que se deve entender por uma prova da existência de coisas externas, então Moore não acredita que nenhuma prova da existência de coisas externas seja possível (ib.).
Observemos, entretanto, que — embora não pretenda indicar um tal princípio ou ‘declaração geral’ — Moore fornece algumas indicações sobre como, em alguns casos, provas de proposições empíricas exatamente como ‘Aqui está uma mão’ poderiam ser feitas. À vista de sua caracterização do que é uma boa prova, tais indicações não deixam de surpreender.
Em primeiro lugar, há o caso em que devemos provar que um objeto empírico (e. g. uma mão humana) é um objeto real — entendendo-se, aí, ‘real’ por oposição a qualquer das possibilidades contrastantes que, por exemplo, J. L. Austin enumera em “Other minds”: ’empalhado, pintado, postiço, artificial, ilusório, anômalo, de brinquedo, fictício, simulado, etc.’ (Austin 1946: 87). Eis o que seria, nesse caso, uma prova:
Se algum de vocês suspeitasse que uma de minhas mãos era artificial, poderia ser convidado a ter uma prova de minha proposição ‘Aqui está uma mão, e aqui está outra’ aproximando-se e examinando de perto a mão suspeita, talvez tocando-a e pressionando-a, e assim estabelecendo que era realmente uma mão humana. (Moore 1939: 149.)
Por certo, esse exemplo não se deixa assimilar inteiramente a nada que Moore tenha feito ao oferecer sua prova — que era uma prova de existência, e não de ‘realidade’, em qualquer das interpretações possíveis desse conceito esquivo. O mesmo não se pode dizer, porém, do outro exemplo apresentado por Moore — de resto, explicitamente associado ao papel que (implicitamente) fora atribuído à exibição na estrutura de sua prova:
Suponha, por exemplo, que estivesse em questão saber se há três erros tipográficos em certa página de certo livro. A diz que sim, B está inclinado a duvidar. Como A poderia provar que está certo? Certamente ele poderia prová-lo apanhando o livro, abrindo a página e apontando para três lugares distintos nela, dizendo ‘Aqui está um erro tipográfico, aqui está outro, e aqui está outro’; certamente esse é um método pelo qual isso poderia ser provado. (Moore 1939: 147.)
Não é fácil caracterizar a impropriedade dessas comparações. A própria análise de Moore, a que elas pertencem, resulta estranhamente incongruente: afinal, se, em ambos os casos (e, especialmente, no segundo), estamos diante de procedimentos legítimos de prova, então temos dificuldade em compreender como é possível que Moore esteja disposto a conceder, a seus opositores, que ele ‘não deu, nem tentou dar’ uma prova das premissas de seu argumento.
Basta atentar para o fato de que, na descrição desse argumento, é essencial a indicação de que as palavras ‘Aqui está uma mão, e aqui está outra’ são proferidas ‘enquanto faço um certo gesto’.
Mas, em seguida, na reflexão de Moore sobre sua prova, esse gesto cai fora de consideração, como se fosse algo irrelevante. Ora, se a ação de erguer a mão não é parte da prova de Moore (e que ele a considera assim é evidente, já por sua caracterização do que seja uma prova satisfatória), então não vemos por que ações como apontar (para os erros tipográficos em uma página impressa) ou examinar, tocar e pressionar (um objeto que se apresenta como uma mão humana) deveriam ser considerados meios de prova. Torna-se patente, aqui, uma espécie de descontinuidade entre as questões disputadas nos dois tipos de contexto — uma espécie de salto de nível entre a disputa quotidiana e a filosófica.
Tocamos aqui, parece-me, a raiz da dificuldade. Se, de fato, Moore não pretende alegar que, ao erguer sua mão, estava fazendo prova do que quer que seja; se as premissas de seu argumento devem ser tidas como não provadas — e se isso, entretanto, não se deve a que Moore desconheça que é justamente assim que, na vida quotidiana, decidimos o valor de verdade de uma variedade de proposições empíricas —, então o que essa surpreendente “concessão” por parte de Moore testemunha é, antes, seu reconhecimento (mesmo se inconsequente) do caráter peculiar da questão filosófica original. Não se trata, em suma, de que a exibição de um objeto físico não seja um modo legítimo de prova. Mas esse modo de prova não seria suscetível de deslindar o problema filosófico. E a questão interessante passa a ser, então: por quê?[6]
É preciso ter em vista a observação de Moore: o que o filósofo espera é ‘uma declaração geral sobre como quaisquer proposições desse tipo podem ser provadas’. Mas isso Moore assegura não estar em condições de oferecer: se é isso o que se entende por uma prova de um mundo exterior, então Moore não acredita que prova alguma de um mundo exterior seja possível.
Essa confissão de impotência diante da questão filosófica (v. g. a questão sobre como quaisquer proposições empíricas sobre objetos externos poderiam ser provadas) é um dos aspectos mais intrigantes da estratégia de Moore: a ela se prende, obviamente, a tentação recorrente na literatura de caracterizar o empreendimento de Moore como uma espécie de recusa irônica de jogar o jogo filosófico da dúvida e da justificação — tentação a que sucumbiram, contra a advertência do próprio Moore (cf. Moore 1942), muitos filósofos, de Ambrose (1942) a Stroll (1990), passando por Hintikka (1973). Em todos esses autores, a manifesta irrelevância do argumento de Moore (e o sentimento decorrente de que esse argumento simplesmente passa ao largo da questão filosófica) motiva uma reconstrução em que a “performance” de Moore é apresentada como uma espécie de pantomima filosófica destinada, não a provar o que ostensivamente pretende estar provando, mas, quem sabe, a recordar seus ouvintes de algo que eles já sabiam e, por qualquer motivo, “esqueceram”: a saber, as condições de emprego do conceito de um objeto externo.
Moore, entretanto, recusou sistematicamente essas interpretações, insistindo em caracterizar o conceito de ‘um objeto externo’ como um conceito empírico, em paridade de condições com quaisquer outros, e a sua própria prova como uma prova empírica da não-vacuidade da extensão de um conceito subordinado àquele.
Que, de fato, não há, na prova pretendida por Moore, nada semelhante a um exercício de anamnese conceitual (destinado, presumivelmente, a elidir a generalidade hiperbólica da pergunta cética pela justificação da crença em objetos externos), eis o que, sobretudo, importa salientar. A alusão, bem no final do artigo de Moore, ao locus classicus do ceticismo sobre o mundo exterior fornece, a esse respeito, uma indicação instrutiva:
Como eu poderia provar agora que ‘Aqui está uma mão, e aqui está outra’? Não creio que possa fazê-lo. Para fazê-lo, eu precisaria provar, em primeiro lugar, como Descartes assinalou, que não estou sonhando. Mas como posso provar que não estou? Eu tenho, por certo, razões conclusivas para afirmar que não estou sonhando; tenho evidência conclusiva de que estou desperto; mas isso é coisa muito diferente de ser capaz de prová-lo. Eu não seria capaz de dizer-lhes em que consiste minha evidência; e ao menos isso eu deveria poder fazer, para lhes dar uma prova. (Moore 1939: 149.)
Deve estar claro, desde logo, que a dúvida cética generalizada, à maneira cartesiana, impugna diretamente a representatividade (e, com ela, a força probatória) de qualquer das provas de existência que Moore toma como paradigmas.
Admitir o Argumento do Sonho equivale, em outras palavras, a admitir a legitimidade da pergunta por um princípio ou, como diz Moore, uma ‘declaração geral’ que indicasse ‘como quaisquer proposições desse tipo podem ser provadas’. A próxima tarefa consiste, portanto, em esclarecer a situação lógica que corresponde à admissão de tal exigência.
Provas filosóficas e provas empíricas: Kant
Em “Transcendental arguments”, Stroud caracteriza o ‘epistemólogo tradicional’ (termo curiosa, mas não gratuitamente, sinônimo, no contexto, de ‘cético’) como alguém que pergunta ‘como é possível saber qualquer coisa sobre o mundo ao nosso redor’, e que, em consequência, ‘não está interessado apenas na questão específica de saber se há realmente um tomate sobre a mesa’ (1968: 242). Esse caráter omnicompreensivo da dúvida cética prejudica, radicalmente, a possibilidade do apelo a algum fragmento particular de alegado conhecimento para justificar alguma outra alegação:
Você não pode mostrar ao cético que não está sonhando, e que, portanto, sabe que há realmente um tomate sobre a mesa simplesmente perguntando a sua mulher se ela também o vê — alucinações de palavras tranquilizadoras de sua mulher não estão em melhor situação epistemológica que alucinações de tomates. (Ib.)
Se justificar uma proposição é dar razões pelas quais se deve tomá-la como verdadeira, e se razões são proposições que implicam logicamente — ou, pelo menos, confirmam, suportam, corroboram — a proposição a ser justificada, então o ceticismo é irrefutável. De alguém que não esteja disposto a aceitar, sem justificação, nenhuma proposição como verdadeira, não se pode esperar que aceite nenhuma justificação.
É, portanto, a totalidade de nosso conhecimento empírico que está sob suspeição, de modo que não há nenhuma maneira de ‘refutar o cético’, se essa refutação depender de que ele aceite alguma proposição como verdadeira. Mas ainda não está decidido se essa é a única forma de refutação que podemos conceber.
Como vimos, Moore pretendia ter dissolvido, com sua caracterização “realista” da ‘exterioridade’, a dualidade dos pontos de vista ‘empírico’ e ‘transcendental’ que, a seus olhos, comprometia a refutação do idealismo de Kant. Sua ambiguidade diante do mostrar-algo, a duplicidade de critérios empregados em sua comparação entre as provas empíricas comuns e sua própria prova filosófica, pareciam, entretanto, trair a sub-repção de uma forma daquela dualidade — para mais, desesperada, já que a tarefa remanescente era reputada inexequível... A intratável dificuldade subsistente, em tal situação, expressava-se no reconhecimento de que a prova requerida em filosofia deveria, supostamente, oferecer uma espécie de instrução geral sobre como quaisquer proposições (sobre ‘coisas fora de nós’) poderiam ser provadas — algo que Moore, entretanto, declarava-se incapaz de oferecer.
Ora, é possível argumentar (em todo caso, é o que eu vou fazer) que essa é propriamente a tarefa que Kant atribui a uma prova filosófica da existência de ‘coisas fora de nós’ — desde que essa prova seja distinguida das provas empíricas que podemos eventualmente fazer da existência de coisas dessa espécie.
Kant, com efeito, distingue cuidadosamente a prova filosófica da existência de um mundo exterior da espécie de provas que, no exemplo de Moore, alguém pode fazer da existência de três erros tipográficos em uma página impressa. Essa distinção é dupla, dizendo respeito ao conteúdo da proposição disputada, assim como ao método de sua prova.
Em outras palavras, não se trata apenas de que os procedimentos de prova envolvidos sejam, como Kant pretende que são, totalmente distintos: essa diversidade, por sua vez, corresponde (necessariamente, para Kant) a uma diferença de natureza do próprio objeto da prova. Por isso mesmo, a falta de uma prova filosófica, e a subsistência de um ‘escândalo’ correspondente, de modo algum compromete as provas que quotidianamente fazemos, cuja validade não precisou aguardar nenhuma ‘fundação filosófica’.
Assim, Kant pode escrever (no “Quarto paralogismo” da primeira edição da Crítica da razão pura) que os ‘objetos do sentido externo’ — esses mesmos cuja realidade é um escândalo para a filosofia não ter ainda demonstrado — são objetos ‘cuja percepção imediata (a consciência) é, ao mesmo tempo, uma prova suficiente (genugsamer Beweis) de sua realidade’ (A 371). Do mesmo modo, a realidade que uma prova filosófica deve estabelecer é, ao mesmo tempo, ‘uma realidade que não tem necessidade de ser conclusão de um raciocínio, mas que é imediatamente percebida’ (ib.).
Tudo se passa, pois, como se reencontrássemos aqui (em uma exposição, todavia, que a reivindica explicitamente) a dualidade de níveis que havíamos reconhecido a propósito de Moore. Mas falar, a este respeito, em ‘dualidade’ não é nem o começo de uma explicação. Afinal, se a realidade dos objetos externos é ‘imediatamente percebida’, se ela ‘não tem necessidade de ser conclusão de um raciocínio’, se a simples percepção é sua ‘prova suficiente’, como pode ser um escândalo que alguma outra prova não esteja disponível?
Para essa questão, uma resposta poderia ser, como viu Moore: porque ainda nos falta ‘algo como uma declaração geral sobre como quaisquer proposições desse tipo poderiam ser provadas’. Tratar-se-ia, nesse caso, de estabelecer a legitimidade do recurso à ‘percepção imediata’ como meio de prova de uma proposição empírica. Se tal reivindicação de legitimidade, por sua vez, pudesse ser estabelecida por algo como uma prova, esta seria, então, uma prova de que a realidade dos objetos externos ‘não tem necessidade de ser conclusão de um raciocínio’.
A questão é saber, em primeiro lugar, se tal prova ‘de segunda ordem’ é possível; e, em seguida, supondo que o seja, que espécie de prova é essa — notadamente, que espécie de argumento, se é que algum, poderia assegurar o resultado desejado.
Ostensão, construção e esquema
O título desta secção indica um programa cuja execução as notas que seguem pretendem apenas (a título fortemente provisório) esboçar. Eis sua ideia geral: se fosse possível mostrar que o esquematismo transcendental deve cumprir, nas provas kantianas dos princípios do entendimento, uma função análoga à que cumprem a intuição empírica na prova de uma proposição sintética a posteriori e o que Kant chama uma ‘construção’ na prova de uma proposição matemática (a saber, a introdução de uma representação singular enquanto instanciação de um conceito geral: empírico, matemático ou ‘puro’), teríamos nessa analogia a chave para o esclarecimento da natureza peculiar da prova filosófica — uma prova, segundo Kant, discursiva, que ‘se pode realizar por simples palavras (pelo objeto em pensamento)’ (A 735/ B 763), e que, entretanto, não pode ser obtida por ‘simples análise de conceitos’ (A 718/ B 746), dependendo, ao contrário, de que ‘um determinado fio condutor exterior ao conceito’ (A 782/ B 810) esteja disponível. Esse resultado equivaleria, por sua vez, ao reconhecimento de que (ao contrário do que pretende Kant) também em um argumento filosófico há algo para ser mostrado — mesmo se não é uma mão humana.
A execução cabal desse programa dependeria, cumpre advertir, de uma reconstrução da teoria kantiana da prova que, por certo, não teria cabimento no presente contexto, mas também (o que é mais importante) que eu não estou, em absoluto, seguro de poder realizar satisfatoriamente. Há, de resto, mais de uma boa razão para suspeitar que seu resultado seria pouco menos (ou mais, em todo caso outra coisa) que uma interpretação de Kant — por isso que, provavelmente, equivaleria a converter a Crítica da razão pura em um livro que Kant não escreveu. No Tractatus logico-philosophicus, talvez.
Qual é, então, a serventia destes exercícios? Para essa pergunta, eu só disponho de uma resposta, rudemente expeditiva: se um texto filosófico deve ter algo a nos ensinar, de que ainda possamos fazer uso, ele deve suportar até o limite da desfiguração (que é quando, finalmente, podemos passar sem ele) os problemas que suscita.
Como sabemos, a teoria kantiana da prova filosófica, apresentada na ‘Doutrina transcendental do método’, é parte da teoria kantiana da prova das proposições sintéticas. Para Kant, as ‘proposições transcendentais’ da filosofia são todas sintéticas; precisamente por isso há um problema de decidibilidade a respeito dessas proposições: pois só numa proposição sintética, para falar como Kant, a relação entre sujeito e predicado (e, portanto, a verdade ou a falsidade da proposição) precisa ser estabelecida indiretamente, através da referência de ambos a um ‘terceiro termo’.[7] A dificuldade é explicar como é possível saber algo a priori sobre uma relação dessa espécie:
Se devo sair a priori do conceito de um objeto, isso é impossível sem um fio condutor particular, que se encontre fora desse conceito. (Kant 1787: A 782/ B 810)
Esse ‘fio condutor’, que me permite conhecer a priori a conexão sintética entre os conceitos, não pode ser a ‘percepção do objeto’: isto é, sua apresentação à intuição empírica. Por outro lado, precisamente porque a conexão em questão é fundada na referência ao objeto, é impossível descobri-la ‘por simples análise de conceitos’.
O ‘terceiro termo’ que assegura a conexão não pode, assim, ser simplesmente dado — nem na ‘intensão’ do conceito (caso em que seria acessível à análise: A 721/ B 749) nem em sua extensão (caso em que teríamos uma proposição sintética a posteriori). Antes, é no modo (entendido como determinação formal) pelo qual algo pode se tornar objeto para nós que Kant vai encontrar esse fio condutor. Ora, as condições a priori sob as quais algo pode se tornar objeto para nós são de dois tipos: condições sensíveis, que especificam o modo como objetos nos são dados; e condições intelectuais, que especificam o modo como podem ser pensados. As primeiras são as formas a priori da intuição; as segundas, os conceitos puros do entendimento.
Desse modo, o fio condutor ‘exterior ao conceito’, que deve tornar possível a prova de uma proposição sintética a priori, será a intuição pura (fundamento da prova das proposições matemáticas) ou a ‘possibilidade da experiência’ (fundamento da prova das proposições filosóficas). Vejamos, brevemente, como isso acontece.
O traço distintivo dos juízos sintéticos, explica Kant, é que eles ‘acrescentam ao conceito do sujeito um predicado que nele não estava pensado e dele não podia ser extraído por qualquer decomposição’ (A 7/ B 11) — ao contrário do que ocorre nos juízos analíticos, em que ‘o predicado nada acrescenta ao conceito do sujeito e apenas pela análise o decompõe nos conceitos parciais, que nele já estavam pensados (embora confusamente)’ (ib.). A distinção entre juízos analíticos e sintéticos nada tem a ver, portanto, com a forma lógica dos juízos. O que essa distinção opõe são, antes, funções epistêmicas diferentes:
seja qual for a origem dos juízos, e a natureza de sua forma lógica, existe neles, quanto ao conteúdo, uma diferença, em virtude da qual ou são simplesmente explicativos, sem nada acrescentarem ao conteúdo do conhecimento, ou extensivos, aumentando o conhecimento dado; os primeiros podem ser chamados juízos analíticos, e os segundos sintéticos. (Kant 1787: A 25)
O ponto decisivo é este: um juízo só pode ‘aumentar o conhecimento dado’ se os conceitos que ele contém estiverem relacionados extralogicamente. Mas, para Kant, só há um modo pelo qual conceitos podem estar relacionados extralogicamente: essa relação deve estar fundada na intuição.[8]
Entendemos, assim, que Kant chegue a dizer (na seção sobre o “Princípio supremo de todos os juízos sintéticos”) que ‘a explicação da possibilidade dos juízos sintéticos’ é ‘o mais importante de todos os assuntos de uma lógica transcendental’ (A 154/ B 193).[9] Sabemos que, para Kant, um juízo é ‘uma relação de representações’ que é ‘objetivamente válida, e assim pode ser adequadamente distinguida de uma relação das mesmas representações que apenas teria validade subjetiva, como quando estão conectadas segundo leis de associação’ (B 142). Por validade objetiva — ‘aquilo que é visado pela cópula “é”’, diz Kant (B 141-2) — deve-se entender a ‘referência da representação ao objeto’ pela qual perguntava a carta a Marcus Herz de 21 de fevereiro de 1772. Validade objetiva, assinala Allison, ‘é um traço definicional do juízo para Kant, não apenas um valor que pode ser atribuído a alguns juízos’ (Allison 1983: 72). Mas, então, o que Kant chama ‘validade objetiva’ é simplesmente a capacidade de um juízo de ser verdadeiro ou falso, e ‘a alegação de Kant de que todo juízo é objetivamente válido é, de fato, equivalente à alegação de que todo juízo tem um valor de verdade’ (Allison 1983: 73). Nesse caso, ‘possibilidade de um juízo’ significa possibilidade da verdade ou da falsidade de um juízo; perguntar pela possibilidade dos juízos sintéticos equivale, então, a perguntar como tais juízos podem ser verdadeiros ou falsos.
Que a distinção entre juízos analíticos e sintéticos esteja fundada no ‘conteúdo’, e não na ‘forma lógica’ dos juízos, como Kant afirma nos Prolegômenos, fica agora claro: é o procedimento de atribuição de valor de verdade (o procedimento de decisão) que distingue as duas classes de juízos.[10]
E compreendemos, também, por que a explicação da ‘possibilidade’ dos juízos sintéticos reveste-se da importância que Kant lhe atribui.
Nos juízos sintéticos, explica Kant, é preciso ‘sair fora do conceito dado para considerar, em relação com ele, algo completamente diferente do que nele já estava pensado’ (A 154/ B 195). É preciso ‘sair fora do conceito’, está claro, porque nele não está dada a relação entre sujeito e predicado da qual depende a verdade ou falsidade do juízo. Essa relação não é, nesse caso, ‘nem uma relação de identidade nem de contradição’ (A 155/ B 193) — portanto, nenhuma relação puramente lógica; em consequência, ‘não se pode conhecer, no juízo em si mesmo, nem a verdade nem o erro’ (A 155/ B 194).
Mas essa é uma determinação puramente negativa. Ainda não sabemos o que deve ser buscado ‘fora do conceito’; menos ainda, onde buscá-lo. Kant fala de um ‘terceiro termo, unicamente no qual se pode produzir a síntese dos dois conceitos’ (A 155/ B 194). Esse terceiro termo é o ‘desconhecido = x’ de que fala o Prefácio à segunda edição da Crítica (B 13). Como podemos determiná-lo? Kant explica: a determinação dessa incógnita está subordinada à exigência de que o ‘terceiro termo’ torne comensuráveis (comparáveis) as representações cuja relação deve mediar. Em consequência, esse terceiro termo
só pode ser um agregado (Inbegriff) em que todas as nossas representações estejam contidas, ou seja, o sentido interno e sua forma a priori, o tempo. (A 155/ B 194)
O tempo é a única forma necessária de toda e qualquer representação.[11] O termo médio da comparação entre representações, que fundamenta a ‘possibilidade’ dos juízos sintéticos, só pode ser, em consequência, o sentido interno: o agregado de ‘todas as nossas representações’, dispostas segundo a forma a priori da temporalidade. A ‘possibilidade’ dos juízos sintéticos (dependam ou não da experiência, sejam dados a priori ou a posteriori) repousa, assim, sobre o contínuo temporal da apercepção.
Mas isso não é tudo: se devemos, de fato, ‘sair fora do conceito dado’, as representações temporais do sentido interno, destinadas a constituir o termo médio da síntese discursiva, não podem ser, elas mesmas, representações discursivas.
Na Dedução Transcendental B (§ 22), Kant distingue as condições sob as quais objetos podem ser pensados das condições sob as quais podem ser conhecidos. As primeiras coincidem com as condições sob as quais um juízo tem ‘validade objetiva’ (isto é, valor de verdade); as segundas, com as condições sob as quais um juízo tem ‘realidade objetiva’ (isto é, um valor de verdade decidível).[12] No primeiro caso, um juízo tem objeto (é “sobre” alguma coisa) num sentido puramente lógico — isto é, abstração feita das condições sob as quais tal objeto pode ser dado (à experiência), se é que o pode. No segundo, introduz-se uma determinação epistêmica no conceito de objeto: trata-se agora de especificar a via de acesso a uma decisão sobre a verdade ou falsidade do juízo; portanto, uma via de acesso ao objeto. A distinção entre pensar e conhecer introduz, assim, a limitação das categorias a seu uso empírico, que vem a ser o resultado decisivo da Dedução Transcendental (§ 27).
Um conhecimento só tem realidade objetiva (referência e sentido, ‘Bedeutung und Sinn’: A 155/ B 194) se seu objeto puder ser dado. Essa exigência decorre da natureza discursiva do entendimento humano, como Kant repetidamente sublinha — recorrendo para esse fim à ficção metodológica de um entendimento intuitivo, ‘no qual todo o múltiplo fosse dado ao mesmo tempo pela autoconsciência’ (B 135): um entendimento ‘que, tomando consciência de si mesmo, fornecesse ao mesmo tempo o múltiplo da intuição; um entendimento mediante cuja representação existissem simultaneamente os objetos dessa representação’ (B 138-9), etc. Para um entendimento discursivo, ao contrário, objetos devem ser dados. Dar um objeto, define Kant, é ‘referir sua representação à experiência (real ou possível)’ (A 156/ B 194): é, em outras palavras, tomar o dado do sentido interno (a representação intuitiva indeterminada, ou carente de toda determinação afora a que lhe advém da forma necessária do sentido interno — a temporalidade) como representação de um objeto. É, por exemplo, tomar essa figura vermelha no espaço visual como aparição de um tomate: do objeto espaço-temporal de uma experiência possível.[13] Assim, a realidade objetiva (‘referência e sentido’) dos juízos depende de que as representações que eles contêm possam ser referidas ao correlato objetivo de um agregado de representações do sentido interno. Com isso, fica claro que mesmo os juízos sintéticos a priori só são possíveis (isto é: verdadeiros ou falsos) na medida em que se referem, ‘embora mediatamente’ (A 157/ B 196), a um tal correlato.[14]
Em consequência, o princípio supremo dos juízos sintéticos é, simplesmente, o princípio da sua dependência em relação à intuição — pura ou empírica. Se o juízo sintético é baseado na experiência, a intuição que o fundamenta deve ser empírica. Se é um juízo a priori, a intuição deve ser pura.
Ora, não é fácil conciliar esse resultado com a oposição sistemática que Kant faz entre as provas ‘intuitivas’ das proposições matemáticas e as provas ‘acroamáticas’ (discursivas) das proposições filosóficas. Pareceria que a intuição não cumpre nenhuma função nestas últimas. Vejamos isso mais de perto.
Nas provas matemáticas, a transição argumentativa que não pode ser feita ‘por simples análise de conceitos’ é assegurada por uma construção; isto é, pela apresentação a priori da intuição que corresponde a um conceito dado (A 713/ B 741).
Isso não é, por certo, a mesma coisa que mostrar-algo (como apontar para uma flor no jardim), mas tem pelo menos um aspecto importante em comum. Pois, na medida em que é uma ‘apresentação intuitiva’, uma construção envolve a introdução de uma representação singular — essa é a definição kantiana de uma intuição.[15] Essa representação é, entretanto, produzida, e não simplesmente “encontrada”; ela não contém, em consequência, senão o que nela é introduzido, de acordo com o conceito que deve instanciar: se o geômetra quisesse conhecer alguma coisa com certeza, escreve Kant, ele ‘nada deveria atribuir-lhe senão o que fosse consequência necessária do que nela tinha posto, de acordo com seu conceito’ (B XII).
Não se trata, portanto, de que nos seja dada uma representação que, por assim dizer, “resultasse” instanciar um conceito geral; ao contrário, trate-se de uma representação oferecida à intuição pura, trate-se de uma representação empírica (a linha traçada com giz em um quadro-negro), essa representação é produzida, de acordo com uma regra contida em seu conceito. Assim, é como um “representante” do conceito que, desde o início, ela é introduzida; por isso Kant diz que um conceito é construído através da exibição a priori da intuição que lhe corresponde.[16]
A prova de que uma figura geométrica tem tal ou qual propriedade vem a ser tomada, assim, por uma prova de que todas as figuras desse tipo têm a mesma propriedade, na medida em que a figura apresentada foi tomada como representativa de toda a extensão conceitual. Como escreve Hintikka:
em matemática, estamos o tempo todo introduzindo representantes particulares de conceitos gerais e desenvolvendo argumentos em termos de tais representantes particulares, argumentos que não podem ser desenvolvidos apenas por meio de conceitos gerais. (Hintikka 1969: 121)
Assim, tanto nas provas das proposições empíricas como nas das proposições matemáticas, o ‘fio condutor’, exterior ao conceito, é uma representação singular: a diferença é que, no primeiro caso, essa representação é dada (à intuição empírica), ao passo que no segundo ela é construída — isto é, introduzida qua instanciação de uma generalidade. A representação singular assim introduzida pertence ao conceito matemático, diz Kant, ‘como seu esquema’ (A 714/ B 743). É, pois, com propriedade que as provas matemáticas são ditas demonstrações: pois é essencial para a condução de uma prova dessa espécie que algo possa ser mostrado (A 754/ B 762).
Qual é a situação da prova filosófica? O fio condutor ‘fora do conceito’ não é aqui — ao menos, prima facie — nenhuma intuição, pura ou empírica, mas o que Kant chama a ‘possibilidade da experiência’. Esta, por sua vez, é determinada por uma ‘síntese transcendental por puros conceitos (aus lauter Begriffen)’ que não se refere senão a ‘uma coisa em geral, quaisquer que sejam as condições sob as quais a sua percepção possa pertencer à experiência possível’ (A 719/ B 747). Por isso Kant reputa impróprio chamar tais provas filosóficas demonstrações, ‘pois estas, como já indica a expressão, penetram na intuição do objeto’ (A 735/ B 736). As provas filosóficas, em troca, deveriam ser levadas a cabo sem qualquer recurso à intuição.[17] Isso parece ser parte do que Kant tem em vista ao opor o conhecimento filosófico, ‘conhecimento racional a partir de conceitos (aus Begriffen)’, ao ‘conhecimento matemático a partir da construção de conceitos’ (A 713/ B 741) ou o ‘uso discursivo da razão segundo conceitos’ ao seu ‘uso intuitivo, fundado na construção de conceitos‘ (A 719/ B 747).
Mas, na verdade, está longe de ser evidente o que deva significar essa expressão ‘a partir de conceitos’. É certo, desde logo, que isso não pode significar o mesmo que: ‘por análise de conceitos’. As proposições transcendentais são proposições sintéticas, cuja verdade ou falsidade está fundada na referência de seus termos a um ‘terceiro termo’ extralógico. Mas então sua prova, por contraste com a de uma proposição empírica (sintética a posteriori), só pode ser fundada no modo da referência a esse objeto (no ‘mecanismo da referência’, como diria um filósofo da linguagem contemporâneo), na medida em que esse ‘modo’ pertença à constituição formal da intuição.
O ‘terceiro termo’, que assegura a conexão entre sujeito e predicado, deveria ser, portanto, para as proposições ‘transcendentais’ não menos que para as matemáticas, uma intuição pura. A dificuldade é conciliar esse corolário, a meu ver incontornável, do ‘princípio supremo dos juízos sintéticos’ com a recusa do caráter demonstrativo das provas filosóficas. Mas talvez a dificuldade seja mais aparente que real.
Como sabemos, Kant definiu os conceitos puros do entendimento como ‘conceitos de um objeto em geral, por intermédio dos quais a intuição desse objeto se considera determinada em relação a uma das funções lógicas do juízo’ (B 128). Mas as categorias assim definidas, Kant as inventariou (na “Dedução Metafísica”) simplesmente especificando, para cada forma lógica, o que seria construir um juízo dessa forma sobre um objeto da intuição, qualquer que fosse o modo dessa intuição (e, assim, qualquer que fosse o modo de apresentação desse objeto). E se na Dedução Transcendental, em troca, Kant introduziu a temporalidade da intuição como condição necessária da apresentação de objetos — efetuando, assim, a transição da ‘validade objetiva’ dos juízos a sua ‘realidade objetiva' (decidibilidade) —, essa condição permanecia inespecífica, no sentido de que todo o resultado da Dedução Transcendental era a exigência de que as categorias, em geral, pudessem ser aplicadas a objetos de uma experiência de natureza temporal. Em outras palavras, só se fosse possível especificar uma contrapartida, na forma do sentido interno, para cada uma das formas lógicas dos juízos, as categorias cumpririam a função de ‘determinar’ as intuições relativamente a essas formas lógicas. E essa especificação deve vir acompanhada da uma explicação do modo como essa contrapartida torna possível, em cada caso, o uso empírico de algum dos conceitos puros do entendimento. Essa é a tarefa principal da ‘Analítica dos Princípios’ — e a chave, em consequência, das provas que Kant tem a oferecer nessa secção culminante da Crítica. Não deverá surpreender que aí esteja, igualmente, a chave da teoria kantiana da prova das proposições sintéticas.
Podemos ater-nos ao essencial: a especificação de um análogo intuitivo para cada ‘função lógica do entendimento nos juízos’ é propriamente a tarefa que Kant atribui aos esquemas transcendentais. Estes são representações peculiares, que Kant diz serem ‘por um lado intelectuais e, por outro, sensíveis’ (A 138/ B 177). Por um lado intelectuais, pois devem ser suscetíveis de aplicação universal, como exige sua função. Por outro sensíveis, na medida em que é o tempo, forma pura da intuição empírica, que deve ser determinado por seu intermédio:
Ora, uma determinação transcendental do tempo é homogênea à categoria (que constitui a sua unidade) na medida em que é universal e assenta sobre uma regra a priori. É, por outro lado, homogênea ao fenômeno na medida em que o tempo está contido em toda representação empírica do múltiplo. (A 138-9/ B 177-8)
Uma ‘determinação transcendental do tempo’, eis o que um esquema transcendental contém. Deixando de lado, por ora, o adjetivo ‘transcendental’, atenhamo-nos a esta ideia: uma ‘determinação do tempo’ deve ser a contrapartida intuitiva de uma forma lógica. O fato de que o esquema de um conceito não possa existir ‘senão no pensamento’ (A 141/ B 180) não deveria, a esse respeito, induzir em erro: enquanto ‘condição formal e pura da sensibilidade’ (A 140/ B 179), o esquema é, ele próprio, uma representação intuitiva, e não discursiva.[18] O que ele contém, em cada caso (isto é, para cada categoria) é, simplesmente, uma especificação do modo pelo qual, na sucessão temporal das representações, o dado (o ‘múltiplo sensível’) pode ‘corresponder’ à forma lógica de um juízo empírico. Tal é o ‘termo médio’ que torna possível ‘a subsunção dos fenômenos na categoria’ (A 139/ B 178).
A introdução do conceito de subsunção, tomado de empréstimo à doutrina do silogismo,[19] para explicar a relação entre o conceito puro e seu “correlato” empírico, responde, aqui, à exigência de uma mediação sem a qual nenhum uso empírico (e, em consequência, nenhum uso) da categoria seria possível: tal conceito ‘puro’ só pode ser aplicado às intuições sensíveis mediante uma especificação, que o próprio conceito não contém,[20] de suas condições de aplicação.
De acordo com essa doutrina, determinar uma intuição é tomá-la como caso ou ‘condição’ (como diz Kant) objetiva da regra contida em um conceito, de tal modo que ela se constitua na representação de um correlato sensível para esse conceito. Determinar o tempo (qua intuição) é, assim, “objetificá-lo”: é tomar a ordem temporal subjetiva como representação de uma certa ordem objetiva — aquela que, em cada caso, corresponde a uma das formas lógicas do juízo. É assim que a ‘permanência do real no tempo’ esquematiza a substancialidade, a sucessão temporal regular esquematiza a causação, e assim por diante (A 142-5/ B 182-4).
Resta saber de que modo Kant pretende poder estabelecer que essas ‘determinações do tempo’ são, em sentido próprio, transcendentais — ou, o que é o mesmo, que essas ‘condições formais e puras da sensibilidade’ são condições necessárias da experiência. A resposta a essa pergunta será também, naturalmente, a chave para compreender por que a conclusão de uma prova transcendental deve ser chamada ‘princípio’, e não ‘teorema’ (Cf. A 737/ B 765).
É útil considerar, seguindo a indicação do próprio Kant, a lição de Hume. O ‘mais sutil de todos os céticos’ (A 764/ B 792) não teve, por muito cético que fosse, maior dificuldade em caracterizar as condições de aplicação empírica dos conceitos ‘puros’: suas descrições dos “esquemas” da substância, ou da causalidade (dos ‘processos da imaginação’ que atribuem ‘imagens’ a esses conceitos, como diz Kant: A 140/ B 179-80), são, de resto, mais vivas e minuciosas que qualquer coisa que se possa encontrar na prosa árida de Kant.
Mas, em Hume, não temos juízos sintéticos a priori. Ele não pretende (muito pelo contrário) estar em condições de provar que uma proposição apoditicamente certa subjaz a cada uma das “analogias” que associam um conceito metafísico a sua “contrapartida” empírica. Mas, também por isso, nenhuma ‘questão de direito’, no sentido kantiano, fica respondida pela doutrina da associação de ideias.
Para responder a uma tal questão, estabelecendo a ‘validade objetiva’ dos princípios do entendimento, Kant deve estabelecer que a própria sucessão temporal indeterminada (o dado “bruto” do ‘sentido interno’) seria impossível se esse indeterminado não fosse determinável relativamente às formas lógicas dos juízos. Em outras palavras, trata-se de mostrar que a ordem temporal subjetiva pressupõe a ordem objetiva que corresponde, em cada caso, ao esquema de uma categoria. Isso, e nada menos, é o que significa, para Kant, provar um princípio:
A prova, na verdade, não mostra que o conceito dado (por exemplo, daquilo que acontece) conduza diretamente a outro conceito (o de uma causa), pois uma tal passagem seria um salto que não se poderia justificar; mostra, porém, que a própria experiência, portanto, o objeto da experiência, seria impossível sem tal ligação. (A 783/ B 811)
Estritamente falando, porém, não é de modo algum a ligação conceitual que ‘torna possível’ a experiência, mas a ‘determinação do tempo’ que corresponde, analogicamente (como uma espécie de “tradução” intuitiva), à forma lógica de certa classe de juízos empíricos: aqueles, justamente, que instanciam tal ligação (assim, para a causação, os juízos hipotéticos). Por isso Kant escreve (no comentário ao princípio das “Analogias da Experiência”), a propósito dos princípios do entendimento:
Estes princípios autorizam-nos apenas a encadear os fenômenos segundo uma analogia com a unidade lógica e universal dos conceitos e, portanto, a servirmo-nos, no próprio princípio, da categoria; mas, na sua execução (na aplicação aos fenômenos), utilizaremos, em lugar desse princípio, o esquema da categoria, como chave do uso desta, ou, de preferência, colocaremos a par da categoria esse esquema, como condição restritiva, dando-lhe o nome de fórmula do princípio. (A 181/ B 224)
Estamos, agora, mais perto de compreender de que modo um ‘fio condutor’ extralógico deve tornar possível, para Kant, uma prova de que a verdade de certa proposição dada é ‘condição de possibilidade’ da experiência. Provar uma tal proposição transcendental consistirá em estabelecer (se tal coisa for possível, o que aqui não está em discussão) que a verdade dessa proposição é uma pressuposição da determinação do tempo de acordo com o esquema de certo conceito puro; e, além disso, que tal determinação é, por sua vez, uma pressuposição da ordem temporal subjetiva do ‘sentido interno’.[21]
E começamos a entrever, também, o que poderia ser uma alternativa kantiana às dificuldades em que se enreda Moore com sua prova. Na perspectiva de Kant, provar a ‘realidade dos objetos da intuição externa’ é provar que seu princípio (e, portanto, a ‘determinação do tempo’ correspondente a certo conceito puro: o de uma substância permanente) é uma condição necessária da temporalidade da própria experiência ‘interna’.
Tal é, com efeito, a prova que Kant pretende fazer na “Refutação do idealismo”. O sucesso dessa prova depende, em consequência, de algo mais que a ‘simples análise de conceitos’, por um lado — e, por outro, de algo menos que a verdade de quaisquer proposições empíricas particulares (como aquelas em que Moore pretendeu fundar sua prova). Este último ponto é decisivo, pois nele é que reside a diferença crucial entre as técnicas de prova de Kant e Moore: para o primeiro, são as propriedades temporais da simples percepção — verídica ou ilusória, pouco importa — de coisas como mãos humanas que fornecerão o fundamento de sua ‘prova de um mundo exterior’. Só por isso é que ele pode anunciar, de resto, que nessa prova ‘o jogo do idealismo se volta, com maior razão, contra ele mesmo’ (B 276).
Se Kant teve algum sucesso, jogando esse jogo, em ‘remover de uma vez por todas o estado de coisas que considerou um escândalo para a filosofia’ é outro assunto. A esse respeito, bem pode ser que Moore tenha razão. Deve estar claro, entretanto, que um veredicto sério depende, não apenas de um exame acurado da “Refutação do idealismo”, como, sobretudo, de uma avaliação exaustiva da teoria kantiana da ‘determinação do tempo’ que é parte integral da pretendida refutação. Pois, se essa teoria resultar insustentável, não é apenas o argumento específico oferecido por Kant na Refutação que deve ser rejeitado, mas toda a estratégia de prova que ele pretende exemplificar.
Empreender esse exame está fora de questão aqui. Está igualmente fora de questão, em consequência, saber se, depois de tudo, teremos alguma razão para preferir a via ‘transcendental’ de Kant à via ‘empírica’ de Moore. Mas talvez não seja impróprio assinalar que, de não ser inteiramente descabida a hipótese de trabalho anunciada no início desta secção, pelo menos uma terceira via está disponível. É com uma breve observação a este respeito que eu gostaria, então, de concluir.
O que é uma prova filosófica?
Há alguns anos, Rüdiger Bubner sugeriu que o traço distintivo de um “argumento transcendental” kantiano residiria em uma propriedade peculiar que ele chamou ‘autorreferencialidade’ (Bubner 1975). A ideia, cuja formulação básica Bubner atribui a Hintikka (1972), é que
não somente o caminho regressivo em direção a pré-condições dadas deve ser chamado 'transcendental', mas, antes, o único argumento digno desse nome é um que, ao fazê-lo, regride até as condições de sua própria operação. (Bubner 1975: 459-60.)
Essa concepção pretendia, naturalmente, captar o sentido em que, para Kant, a conclusão de uma prova filosófica ‘torna possível a própria experiência que é o fundamento de sua prova’ (A 737/ B 765). No artigo “Quantifiers, language-games and transcendental arguments” (republicado em Hintikka 1973), ao qual Bubner se refere, Hintikka esboçou, com efeito, uma semântica da lógica de primeira ordem baseada na teoria dos jogos, de acordo com a qual sentenças quantificadas estão ‘conectadas com a realidade’ por meio de certos processos (jogos) de verificação/falseamento, que Hintikka chamou ‘jogos de explorar o mundo’. De acordo com essa teoria, qualquer argumento dedutivo na lógica de primeira ordem pressupõe, forçosamente, a possibilidade de jogar esses jogos. Em consequência:
Se um argumento dedutivo supostamente estabelece tal possibilidade, e se tal argumento é, ele próprio, quantificacional, então temos uma situação algo análoga à que Kant descreve. A conclusão (a possibilidade de certas práticas conceituais) é obtida por um argumento que se apoia, ele próprio, sobre essas práticas. A conclusão torna possível o próprio argumento por meio do qual é estabelecida. (Hintikka 1972: 278)
Não é fácil perceber em que a noção de ‘autorreferência’ de Bubner[22] contribuiria para elucidar a estrutura de um argumento que tivesse (supondo que algum argumento tenha) as características indicadas por Hintikka. Como observa Wolfgang Carl:
se isso é um caso de autorreferência, então a tese de que os argumentos transcendentais são autorreferenciais resolve-se na afirmação de que esses argumentos são uma espécie de argumentos pressuposicionais: o que o argumento tenta estabelecer é pressuposto pela interpretação semântica de sua forma lógica. (Carl 1979: 107)
Para Kant, entretanto, o ‘fundamento da prova’ de uma proposição transcendental era, como vimos, a estrutura temporal da experiência. Ora, se essa estrutura fornece algo como a ‘interpretação semântica’ de uma forma lógica, não é, com certeza, da forma lógica de um argumento.[23] São os juízos empíricos que fazemos que, se Kant estiver certo, não poderiam ser verdadeiros, nem falsos, se certas condições não estivessem satisfeitas: se, por exemplo, não existissem quaisquer ‘coisas fora de nós’. Pelo menos no que respeita a Kant, portanto, falar em ‘interpretação semântica da forma lógica de um argumento’ não parece mais esclarecedor que falar em ‘autorreferência’. Na melhor das hipóteses, qualquer dessas expressões é uma abreviatura enganosa para designar o complicado mecanismo pelo qual, como vimos, as ‘condições sensíveis do conhecimento’ ingressam, sob a bandeira da ‘experiência possível’, na prova de uma proposição filosófica.
Mas, para Kant, tratava-se de uma ‘condição formal e pura da sensibilidade’, a ser desocultada por um argumento. Que a exibição de um objeto empírico (uma mão humana, três erros tipográficos) pudesse, alguma vez, cumprir a mesma função, sem a necessidade de nenhum argumento adicional, é claro que Kant reputaria inconcebível. E ao menos nisso, como vimos, Kant e Moore estariam de acordo.
A possibilidade merece, entretanto, algo mais que a desconsideração sumária. Se não estou enganado, também, não sou o único a ter essa impressão. Os filósofos que, teimosamente, quiseram ler, nas entrelinhas do argumento empírico de Moore, a dramatização irônica de uma proposição “transcendental” pressentiram, com razão, nesse argumento frustrado, a proximidade de algo importante, talvez sem precedentes numa discussão filosófica desse tipo: a apresentação ostensiva de um paradigma da certeza empírica como paradigma. Quando tivermos clareza sobre o que estaria envolvido em uma tal apresentação (e isso significa, em primeiro lugar, sabermos em que consiste tomar uma coisa como paradigma, padrão ou medida de outra coisa), talvez estejamos em condições de elucidar o papel que poderia ter, no tratamento de um problema como o de Moore, ‘um certo gesto’. Eu não estou pensando no gesto (feitas as contas, demasiado tímido) do próprio Moore, mas em um gesto propriamente exemplar:
Depois que saímos da igreja, estivemos por algum tempo a conversar sobre a engenhosa sofística concebida pelo Bispo Berkeley para provar a inexistência da matéria, e que todas as coisas no universo são meramente ideais. Observei que, embora estejamos convencidos de que essa doutrina não é verdadeira, é impossível refutá-la. Nunca esquecerei a vivacidade com que Johnson respondeu, chutando com toda a força uma grande pedra, até fazê-la saltar: “Eu a refuto assim!” (Boswell 1791: 333)[24]
Referências
Allison, Henry E. (1983) Kant’s transcendental idealism. New Haven: Yale University Press.
Ambrose, Alice. (1942) Moore’s proof of an external world. In: Schilpp, P. A. (ed.), The philosophy of G. E. Moore, 3rd ed. La Salle, Ill.: Open Court, 1968.
Anscombe, G. E. M. (1957) Intention. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Austin, J. L. (1946) Other minds. In: Philosophical papers, 3rd ed. Oxford University Press, 1979.
Brueckner, Antony. (1983) Transcendental arguments I. Noûs 17: 551-75.
Brueckner, Antony. (1984) Transcendental arguments II. Noûs 18: 197-225.
Boswell, James. (1791) The life of Samuel Johnson, L.D.L. Oxford University Press, 1989.
Bubner, Rudiger. (1975) Kant’s transcendental arguments and the problem of deduction. Review of Metaphysics XXVIII, 3: 454-67.
Carl, Wolfgang. (1979) Comment on Rorty. In: P. Pieri, R.-P. Horstmann, and L. Kruger (eds.). Transcendental arguments and science. Dordrecht: D. Riedel.
Clarke, Thompson. (1972) The legacy of skepticism. Journal of Philosophy, LXIX, 20: 754-69.
Crawford, Patricia. (1962) Kant’s theory of a philosophical proof. Kant-Studien 62: 257-68.
Frege, Gottlob. (1884) Os fundamentos da aritmética. Trad. Luiz Henrique Lopes dos Santos. São Paulo: Abril Cultural, 1980.
Hintikka, Jaakko. (1969) Kant on mathematical method. In: L. W. Beck (ed.). Kant studies today. La Salle, Ill.: Open Court.
Hintikka, Jaakko. (1972) Transcendental arguments: genuine and spurious. Noûs VI, 3: 274-81.
Hintikka, Jaakko. (1973) Logic, language-games and information. Oxford: Clarendon Press.
Kant, Immanuel. (1781) Kritik der reinen Vernunft. In: Werkausgabe III/IV. Ed. Weischedel. Frankfurt: Suhrkamp, 1977.
Kant, Immanuel. (1783) Prolegomena. In: Werkausgabe V. Ed. Weischedel. Frankfurt: Suhrkamp, 1977.
Kant, Immanuel. (1800) Logik [Jäsche] In: Werkausgabe VI. Ed. Weischedel. Frankfurt: Suhrkamp, 1977.
Loparic, Zeljko. (1990) The logical structure of the first antinomy. Kant-Studien 81: 280-303.
Moore, G. E. (1939) Proof of an external world. In: Philosophical papers. London: George Allen & Unwin, 1959.
Moore, G. E. (1942) Replies to my critics. In: P. A. Schilpp (ed.), The philosophy of G. E. Moore. La Salle, Ill.: Open Court.
Parsons, Charles (1971) Kant’s philosophy of arithmetic. In: R. C. Walker (ed.), Kant on pure reason. Oxford University Press.
Strawson, P. F. (1966) The bounds of sense. London: Methuen.
Stroll, Avrum. (1990) Max on Moore. Dialectica 44, 1-2: 153-63.
Stroud, Barry. (1968) Transcendental arguments. Journal of Philosophy LXV, 9: 241-56.
Stroud, Barry. (1979) The significance of scepticism. In: P. Pieri, R.-P. Horstmann, and L. Kruger (eds.). Transcendental arguments and science. Dordrecht: D. Riedel.
Stroud, Barry. (1984) The significance of philosophical scepticism. Oxford: Blackwell.
Wittgenstein, Ludwig. (1953). Philosophische Untersuchungen. Ed. by G. E. M. Anscombe, G. H. von Wright, and R. Rhees. In: Werkausgabe, Band 1. Frankfurt: Suhrkamp, 1979.
Uma vez, em pleno verão de Porto Alegre, ofereceram-me uma tulipa colhida na véspera em Amsterdam, com a recomendação de mantê-la num vaso com água gelada. Na manhã do dia seguinte, com a ajuda do ar-condicionado e de todo o gelo que havia na gaveta do congelador, ela ainda parecia recém colhida. ↩︎
Isso depende, por certo, do que estejamos dispostos a chamar ‘premissas’, ‘conclusão’ ou mesmo ‘argumento’; mas a questão não é meramente verbal. Aristóteles falou de argumentos cuja conclusão não era uma proposição, mas uma ação: este seria, justamente, o traço distintivo dos ‘silogismos práticos’, que Anscombe pretendeu resgatar do descaso em que caíram na tradição aristotélica moderna (cf. Eth. Nicom. 1147a. Anscombe 1957: 57-62). Nos Movimentos dos animais, Aristóteles escreve: ‘Mas como é possível que o pensamento seja às vezes seguido pela ação, às vezes não? O que acontece aqui parece paralelo ao pensar e inferir sobre os objetos imóveis. Naquele caso, o fim é a verdade a que chegamos (pois quando pensamos as duas proposições, pensamos e acrescentamos a conclusão), mas aqui as duas proposições resultam em uma conclusão que é uma ação — por exemplo, se penso que todo homem deve caminhar, e que eu mesmo sou um homem, ponho-me a caminhar; ou que, em troca, nenhum homem deve caminhar, e que eu sou um homem; simplesmente fico em repouso’ (7, 701a 7-15). Wittgenstein, nas Investigações filosóficas, fala em ‘inferências que não pertencem à Lógica’; seu exemplo é a inferência, com base no que eu vejo em uma fotografia, de uma conjectura acerca do que estava ocorrendo na situação fotografada (Wittgenstein 1953: §486). Oswaldo Chateaubriand, em um trabalho ainda não publicado, fala em premissas ‘que não podem ser representadas como sentenças’. Seu exemplo é a impressão que várias testemunhas causaram sobre o júri num processo criminal: ‘Mesmo se em geral se admite que uma testemunha causou boa, ou má, impressão, isso não pode, em geral, ser expresso linguisticamente, em paridade com as outras premissas, e não constará dos autos’. Em todos esses casos, não se trata de disputar por palavras: ‘Diga o que quiser, com tal de que isso não o impeça de enxergar o que há’, recomendaria Wittgenstein (1953: § 79). Quanto a mim, adoto, neste trabalho, a política conservadora de chamar ‘premissa’, ‘conclusão’ e ‘argumento’, exclusivamente, aquilo que os livros-texto de lógica chamam assim. Isso permitirá concentrar a atenção no contraste entre as provas exclusivamente discursivas (argumentos, no sentido standard) e aquelas que, justamente, mais me interessam. ↩︎
O demonstrativo ‘aí’ poderia (alguns dirão, deveria), por sua vez, ser eliminado, em favor de uma paráfrase que não contivesse indexicais. A complicação é irrelevante no presente contexto. ↩︎
Cf., para uma avaliação predominantemente negativa das perspectivas a este respeito, Brueckner 1983 e 1984. ↩︎
Como se verá, meu tratamento da prova de Moore é tributário da interpretação proposta por Thompson Clarke em “The legacy of skepticism” (Clarke 1972), admiravelmente retomada e desenvolvida por Stroud em seu livro sobre o ceticismo filosófico (Stroud 1984). O limitado interesse de minha abordagem prende-se à tentativa de caracterizar a dualidade entre o ‘raso’ (‘the plain’) e o ‘filosófico’ (Clarke), ou entre os pontos de vista ‘interno’ e ‘externo’ (Stroud), em termos de procedimentos de prova, ou do que talvez coubesse chamar a gramática da justificação. Essa abordagem é motivada por restrições (que não posso discutir no presente artigo) à ideia, comum a Clarke e a Stroud, de que aos usos ‘raso’ e ‘filosófico’ de uma sentença não corresponde uma diferença de sentido — que, por exemplo, duas ocorrências da sentença ‘Sei que não estou sonhando’, tais como proferidas, respectivamente, por Descartes no curso de suas meditações metafísicas e por um turista que contempla o Rio de Janeiro do alto do Corcovado, ‘não são apenas gêmeas verbais, mas gêmeas de significado’ (Clarke 1972: 759). Em minha opinião, a mera observação de que os procedimentos de prova disponíveis em um e outro caso não são os mesmos — ou, pelo menos, de que o que certamente constituiria uma prova no segundo caso seria perfeitamente irrelevante no primeiro — deveria ser considerada uma objeção prima facie a essa suposição. Está claro, porém, que considerá-la uma objeção genuína depende (como Stroud e Clarke sabem muito bem, e dizem com todas as letras) de que estejamos dispostos a admitir que o sentido de uma proposição não é indiferente ao modo pelo qual ela pode (quando pode) ser provada. Ao menos uma coisa mais deveria, porém, estar igualmente clara: que admiti-lo não importa em comprometer-se com o ‘verificacionismo’; pois não se está dizendo que uma proposição não tem sentido a menos que disponhamos de um meio de prova para ela. Antes, saber como se prova uma proposição é uma das coisas que podem estar envolvidas em compreendê-la (portanto, em saber o que ela significa): ‘A pergunta pelo modo e a possibilidade da verificação de uma proposição é apenas uma forma particular da pergunta “O que você quer dizer?”. A resposta é uma contribuição à gramática da proposição’ (Wittgenstein 1953: § 353). Como observa Chateaubriand (em seu trabalho citado acima), há certamente algo errado com o argumento que conclui, a partir do fato de que o princípio de verificação não funciona em geral, que ele nunca funciona! Seja como for, e independentemente da caracterização que aceitarmos das relações entre sentido e verificação, a inspeção das variedades de prova que distinguem o ‘raso’ e o ‘filosófico’ é certamente parte da tarefa de inventariar o conteúdo do que Clarke chama o ‘legado do ceticismo’: a saber, ‘o problema do raso, de sua estrutura, do caráter e da fonte de sua relativa “não objetividade”’ (1972: 769). Discuto as questões semânticas indicadas nesta nota em um trabalho em preparação. ↩︎
Ambrose a discute em seu 1942. Ela concede a Moore que, em circunstâncias ordinárias, a técnica de prova adotada por Moore decidiria conclusivamente a questão de saber se, em uma coleção de moedas, há alguma de dez centavos: ‘Mas, quanto ao passo seguinte do argumento, a saber, a inferência de “Existe uma moeda de dez centavos” para “Existem objetos externos”, isso não poderia convencer o homem comum da existência de um objeto externo, pois tal coisa não estaria em discussão’ (1942: 405). A prova de Moore é, assim, dividida em dois momentos: uma prova empírica (que, em sua avaliação subsequente, Moore não leva em conta) e uma prova filosófica (que, em circunstâncias ordinárias, ninguém pediria). A interpretação subsequente de Ambrose é, todavia, comprometida pela mesma “sedução” que compromete outras interpretações de Moore: a de atribuir-lhe
“segundas intenções” filosóficas — como se fosse intolerável admitir que Moore pudesse ter querido dizer exatamente o que disse, e ainda assim ter pretendido dar alguma contribuição filosoficamente significativa (cf., a propósito, a discussão admirável de Stroud 1984: 88-126). ↩︎Em troca, a verdade ou falsidade de uma proposição analítica pode ser determinada apenas pela análise do conceito do sujeito — o que equivale a dizer que, do ponto de vista da atribuição de seu valor de verdade, a referência ao objeto é irrelevante. Isso explica, de resto, que possamos fazer juízos analíticos sobre objetos inexistentes, ou mesmo impossíveis, e também por que seu valor de verdade é conhecido a priori (cf. Allison 1983: 75). ↩︎
Isso decorre, como veremos, da natureza do pensamento discursivo. Para Kant, conceitos nunca se referem diretamente a objetos, mas apenas a outras representações (conceitos ou intuições) (A 68/ B 93): essa limitação é constitutiva da natureza predicativa dos conceitos. Assim, um conceito (por oposição a uma intuição) só se refere a um objeto ‘mediatamente, por meio de uma nota (eines Merkmals) que várias coisas podem ter em comum’ (A 320/ B 377). ↩︎
A solução do ‘problema geral da razão pura’ está subordinada a essa explicação. Esse problema geral é o problema de saber como poderíamos decidir, com ‘absoluta independência de toda e qualquer experiência’ (B 3), se um juízo sintético é verdadeiro ou falso. ↩︎
A distinção entre classes de juízos (a priori/a posteriori, analítico/sintético) guarda, assim, uma relação interna com a distinção entre procedimentos de prova. Nos Fundamentos da aritmética, Frege anota: ‘As distinções entre a priori e a posteriori, sintético e analítico, concernem, a meu ver, não ao conteúdo do juízo, mas à justificação da emissão do juízo’ (Frege 1884: 206). Em uma nota, Frege assinala que não pretende, com essa caracterização, estar introduzindo nenhuma novidade, mas apenas capturando o que outros lógicos antes dele, ‘especialmente Kant’, visaram (ib.). ↩︎
Como veremos, isso não vale apenas para as representações sensíveis, embora só para estas valha imediatamente. ↩︎
Na interpretação construtivista de Kant (cf. Loparič 1990), seria preciso falar de outro modo: um juízo que tivesse apenas ‘validade objetiva’, mas carecesse de ‘realidade objetiva’ (um juízo transcendente), careceria, também, de valor de verdade. Pessoalmente, não tenho nenhuma restrição de princípio a essa notação, mas também não creio que nenhuma questão importante esteja em jogo em seu contraste com a notação “realista” que, por comodidade, adoto em minha exposição. Numa perspectiva rigorosamente kantiana, falar em juízos que não têm nenhum valor de verdade, ou em valores de verdade que ninguém pode determinar, é perfeitamente indiferente: se tanto, a diferença se resume ao ‘grito de guerra’, como diria Wittgenstein. ↩︎
Posso estar alucinando: mas, então, também uma alucinação é a representação de uma experiência (logicamente) possível. ↩︎
Kant, naturalmente, define a verdade da síntese transcendental (isto é, a validade objetiva dos princípios do entendimento) como ‘concordância com o objeto’: a síntese transcendental ‘só tem verdade (concordância com o objeto) pelo fato de nada mais conter senão o necessário à unidade sintética da experiência em geral’ (A 157-8/ B 196-7). Mas ‘concordância com o objeto’ não significa aí: acordo com o dado (com a matéria da experiência, para falar como Kant), mas com o modo de presentação do dado (com sua forma). Que os ‘princípios’ do entendimento possam ser ditos, neste sentido (e, mesmo, em qualquer outro), verdadeiros (ou falsos) mereceria, entretanto, discussão. O leitor atento não deixará de encontrar, no presente artigo, o princípio de uma resposta negativa a essa questão. ↩︎
Para Kant, seguindo uma tradição que remonta, pelo menos, a Aristóteles, a percepção sensível é o único modo de apreensão de particulares. Strawson argumenta, em The bounds of sense, que, transposta do ‘jargão das faculdades’ para o da análise conceitual sóbria, a dualidade entre sensibilidade e entendimento deixa-se reduzir à dualidade entre conceitos gerais e instâncias particulares de conceitos gerais (cf. Strawson 1966: 20). Em suas linhas gerais, a tentativa de Hintikka (1969) de purgar o conceito kantiano de intuição, dissociando a filosofia da matemática de Kant de sua teoria da sensibilidade, é aparentada à proposta de Strawson. O programa de Hintikka (que foi executado em seu livro de 1973) é substituir a receptividade da sensação pelas atividades de ‘buscar e encontrar’ objetos, explicadas em termos de uma reconstrução, baseada na teoria dos jogos, do conceito wittgensteiniano de um jogo de linguagem. As dificuldades dessa tentativa merecem tratamento à parte. De todo modo, e embora, sob diversos aspectos, o programa me pareça deixar de fazer justiça a Kant (não menos que a Wittgenstein!), vale a pena assinalar que uma regra para buscar objetos é justamente o que, de acordo com Kant, um esquema transcendental contém — e um ‘princípio’ do entendimento não é, como veremos, outra coisa que o enunciado de uma tal regra. ↩︎
Hintikka sugeriu que a noção de ekhtesis (ou apresentação), na prova euclidiana de uma proposição geométrica, ‘oferece uma boa reconstrução da noção kantiana de exibição de um conceito geral por meio de um representante particular’ (1969: 133); ele também argumentou que essa noção corresponde à regra de instanciação existencial na teoria da quantificação. Essa interpretação é a base da tentativa de Hintikka — criticada por Parsons (1971) e Allison (1983: 67) — de dissociar singularidade e imediatidade, para reter apenas a primeira como nota característica do conceito kantiano de intuição. ↩︎
Esse é o núcleo do que se poderia chamar a interpretação canônica da teoria kantiana da prova filosófica (cf., por exemplo, Crawford 1962). ↩︎
O esquema não é, com certeza, uma representação geral, ou ‘por notas comuns’. A caracterização dos esquemas como intuições puras “conceitualizadas” (isto é, determinadas em relação a um conceito puro, no sentido adiante especificado) é defendida, persuasivamente, por Allison (1983: 179-185). ↩︎
Cf. a Lógica de Jäsche, §58 (Kant 1800: A 188-9). Na Crítica da razão pura, cf. A 139/ B 178 (a categoria é a condição de uma regra geral: as leis da natureza a aplicam a instâncias particulares). Cf., também, A 330/ B 386. ↩︎
Por isso mesmo não é possível fazer uma prova analítica, ‘por simples análise de conceitos’, de um princípio do entendimento. ↩︎
Tal é a interpretação que, se não estou enganado, melhor esclarece a caracterização kantiana da estrutura de uma prova transcendental, na “Disciplina da razão pura”. Cf., a propósito, esta passagem muito citada: ‘Ora, toda a razão pura, no seu uso simplesmente especulativo, não contém um único juízo por conceitos, diretamente sintético. Efetivamente, como mostramos, não é capaz de fornecer, por meio de ideias, nenhum juízo sintético que tenha validade objetiva; por meio de conceitos do entendimento, porém, estabelece princípios certos, mas apenas indiretamente, pela relação desses conceitos a algo de totalmente contingente, a saber a experiência possível; pois, quando é suposta essa experiência (algo enquanto objeto de uma experiência possível), estes princípios podem ser, sem dúvida, apoditicamente certos, mas não podem, em si mesmos (diretamente), ser conhecidos a priori. Assim, ninguém pode, unicamente por estes conceitos dados, penetrar a fundo a proposição: Tudo o que acontece tem uma causa. Por isso esta proposição não é um dogma, embora de um outro ponto de vista, a saber, no único campo de seu uso possível, isto é, da experiência, possa muito bem ser provada apoditicamente. Mas é chamada princípio e não teorema, embora possa ser provada, por possuir a propriedade especial de tornar possível o fundamento de sua própria prova, a saber, a experiência possível, e nesta dever estar sempre pressuposta’ (A 736-7/ B 764-5). ↩︎
‘Um argumento transcendental afirma o que afirma e diz algo sobre si mesmo’ (Bubner 1975: 460). ↩︎
Tal é, justamente, a razão por que as ‘ideias transcendentais’ estão limitadas a um uso puramente heurístico ou ‘regulativo’ (Cf. A 642-68/ B 670-97). ↩︎
O caráter antes programático que analítico do presente escrito é o principal, sem ser o único, dos defeitos que, por ora, não fui capaz de remediar. Eles seriam mais numerosos (e, em alguns casos, mais graves) não fossem as discussões que travei com Eduardo Vicentini de Medeiros, Elfio Ricardo Mendes, Peter Dalla Riva de Oliveira e Rodrigo Torres Guedes. ↩︎
Arquipélago Filosófico, Vol. 1, No. 16 (2025), e-016
ISSN 3086-1136