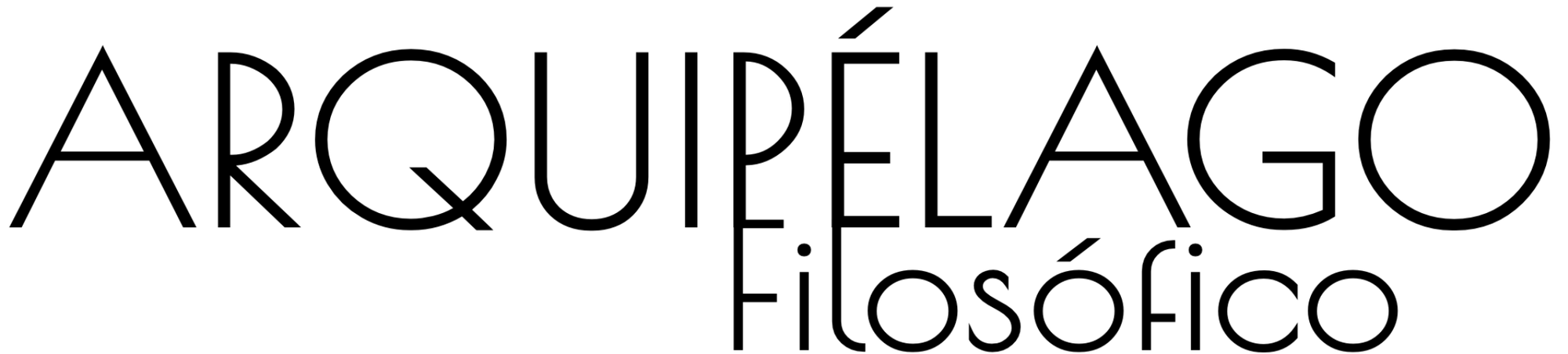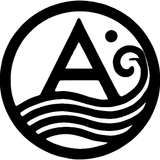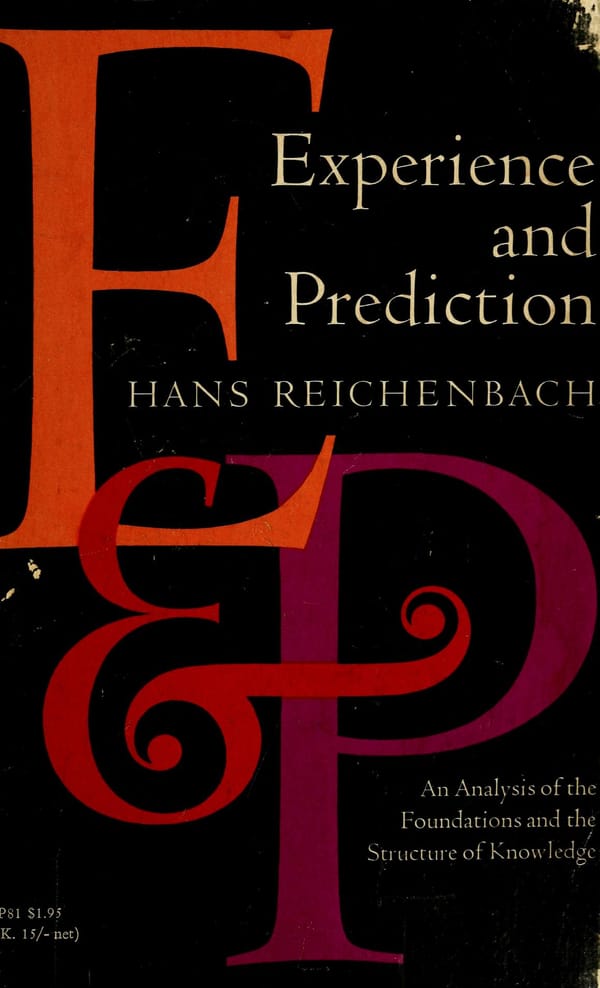Paulo Faria, Ainda não

Nota dos editores
Este artigo foi escrito em 1995 para uma revista dos estudantes do Departamento de Filosofia da UFRGS, a Questões disputadas. Paulo Faria gentilmente permitiu sua republicação no Arquipélago. O artigo salienta algumas dificuldades de se diferenciar um enunciado “p” de enunciados do tipo “é verdade que p”. Disso se segue, no artigo, uma perplexidade com respeito à noção de verdade em um determinado tempo, p-em-t. Em textos posteriores — por exemplo, no primeiro capítulo do seu livro Time, thought and vulnerability (2017) —, essa perplexidade está dissolvida, uma vez que razões são indicadas para se introduzir índices temporais em enunciados. Mas a difildade de se distinguir “p” e “é verdade que p” permanece, e, do mesmo modo, para a distinções entre “p-em-t” e “é verdade que p-em-t”.
Paulo Faria é professor titular no Departamento de Filosofia da UFRGS.
Ainda não
Paulo Faria
Quando você me perguntou o que eu pensava sobre o problema dos futuros contingentes, eu disse que não pensava nada, que não perderia uma hora de sono pensando nisso. Eu posso dormir sem o Princípio de Bivalência, se é esse o problema, acrescentei.
Você disse que sim, que era esse o problema – mas que, se eu podia dormir sem o Princípio de Bivalência, então estava tudo bem, porque essa era a solução do problema.
Olha, eu não sei se entendo essa solução. Da última vez que perdi o sono, em todo caso, foi nisso que fiquei pensando – se eu sabia o que estava dizendo quando dei aquela resposta. E o resultado a que cheguei foi... Bem, não encontro outra maneira de expressá-lo senão dizendo, simplesmente: não sei.
Você notará que essas palavras são ambíguas – que eu tanto poderia estar dizendo que não sei agora se antes sabia (e, digamos, esqueci), como poderia estar dizendo que (sim, agora eu sei que) não sabia (o que estava dizendo quando disse que podia dormir sem o Princípio de Bivalência). O propósito das observações que seguem é resolver essa ambiguidade – uma tarefa mais complicada do que parece à primeira vista.
‘Como assim, uma tarefa mais complicada?’ Tudo que tenho a fazer, você dirá, é esclarecer o que quis dizer quando escrevi, linhas acima: ‘não sei’. Mas, justamente, se isso fosse sempre uma tarefa simples, eu nunca me encontraria numa situação como esta em que me encontro – a situação em que estou inclinado a dizer exatamente o que disse, ‘não sei’. O que é que eu não sei? Eu não sei se entendo a solução que eu disse que aceitava para o problema dos futuros contingentes.[1] Como posso decidir se antes entendia e agora deixei de entender?
Ao menos uma coisa é certa: se eu sabia o que estava dizendo, deveria poder explicá-lo caso alguém mais não o entendesse. Mas a ideia de conjecturar agora sobre o que eu teria dito (se alguém me tivesse perguntado) parece-me tão fútil quando irrelevante. Como decidiríamos se a conjectura é verdadeira? E, sobretudo, supondo que pudéssemos decidir, quem poderia estar interessado nisso? Mas saber se uma explicação é esclarecedora ou pelo menos inteligível pode ter, em troca, um interesse maior que o de uma conjectura autobiográfica.
Em todo caso, eis o que tentarei fazer a seguir: reconstituir, tão escrupulosamente quanto for capaz, a espécie de explicação que eu acho que tinha em vista – de fato, a espécie de explicação que eu acho que têm em vista, em geral, os filósofos que (como eu próprio há não muito tempo) podem “dormir sem o Princípio de Bivalência”, satisfeitos de terem exorcizado assim a ameaça de que o que vai acontecer no dia seguinte pudesse estar decidido desde o começo do mundo. Se a explicação não for satisfatória (afinal, eu não posso explicar mais do que eu próprio entendo), você pelo menos compreenderá a dificuldade em que me encontro.
Estas notas são, portanto, um exercício de ficção – mas também são algo mais do que isso. A pergunta que eu quero fazer (para mim mesmo, mas você saberá se lhe serve a carapuça) é: quando você diz que uma frase que descreve um acontecimento futuro não pode ser, por enquanto, nem verdadeira nem falsa, a menos que esse acontecimento seja necessário (inevitável, determinado), como quer que eu entenda o que está dizendo?
Vamos começar pelo começo (eu não estou seguro de poder ir muito além do começo dessa história). Você diz: o que ainda não aconteceu (um acontecimento futuro) ou pode acontecer ou não pode acontecer. No primeiro caso, o que pode acontecer, ou pode também não acontecer ou não pode não acontecer. Temos, assim, três possibilidades: um acontecimento futuro é possível ou impossível; caso seja possível, é contingente ou necessário.
Suponho que esteja claro que as modalidades (possibilidade, impossibilidade e necessidade) de que estamos falando não estão limitadas ao que costumamos chamar necessidade ou possibilidade lógicas. Se considerássemos apenas essa espécie de necessidade ou possibilidade, os únicos exemplos de “acontecimentos futuros impossíveis” seriam coisas como: ‘Paulo vai terminar de escrever este artigo ontem’.
Também deveria estar claro (eu ainda não saí do começo) que a “irrevogabilidade do passado” é um caso do que eu chamei ‘impossibilidade lógica’. O “exterminador do futuro”, naquele filme reacionário, viaja ao passado para matar o herói e assim impedir que ele tenha existido. Mas o que significa ‘impedir que algo (que aconteceu) tenha acontecido’? (Oscar Wilde apresenta a doutrina cristã da remissão dos pecados como uma forma da convicção de que o passado é revogável: mas não entenderíamos essa observação se a tomássemos como uma refutação daquela doutrina; o contexto é, ao contrário, uma defesa do cristianismo.[2] Se entendemos o que Wilde está querendo dizer, a ideia de que o perdão faz com que o que aconteceu “não tenha acontecido” deixa de parecer absurda. O advérbio “sob uma descrição” pode ser útil aqui.)
Observe, entretanto, que, quando dizemos que o passado é necessário no sentido em que “o que está feito, está feito”, não estamos dizendo que o que aconteceu não podia não ter acontecido; que era necessário que isso acontecesse. O lema poderia ser: necessariamente, o que aconteceu, aconteceu; mas não: o que aconteceu, aconteceu necessariamente.
A expressão ‘futuro contingente’ é, portanto, ambígua. Por um lado, o futuro parece ser contingente, e, portanto, não necessário, no mesmo sentido em que o passado é necessário.[3] Nesse sentido, o futuro só é “contingente” porque ainda não aconteceu. Mas esse não pode ser o sentido relevante para o “problema dos futuros contingentes”. (Portanto, também não é a “irrevogabilidade” do passado – ou do presente – que vem ao caso aqui.) O sentido relevante em que o futuro é contingente é o sentido em que o que ainda não aconteceu pode acontecer, e também pode não acontecer.
(Suponha, por um instante, que “só há necessidade lógica” – que, “no mundo”, tudo acontece por acaso. Sim, a ideia é estranha: como é que eu entenderia, então, a advertência, no extintor de incêndio, para só remover o lacre ‘em caso de necessidade’? ‘Nenhum incêndio é necessário!’, seria o caso de dizer.[4] Mas o que me importa aqui é que não precisamos rejeitar essa ideia para termos um problema com a contingência do futuro.)
(A situação vai ser outra se estivermos inclinados a dizer, em troca, que tudo que acontece acontece necessariamente – que nada (do que acontece) poderia ser diferente. Pois, nesse caso, dizer que algo pode acontecer é dizer também que não pode não acontecer. Note, entretanto, que, mesmo nesse caso, parece haver um sentido em que o futuro, em contraste com o passado e o presente, poderia ainda ser dito “contingente” (sua “contingência” seria a do que ainda é mera possibilidade).[^5] Mas, então, esse contraste se reduziria ao contraste entre o que já aconteceu,ou está acontecendo, e o que ainda não aconteceu; não era isso o que queríamos ver esclarecido.)
Será que eu entendo esse plural, ‘futuros contingentes’? Você diz: ‘há muitos futuros possíveis, mas só um passado (e um presente)’. A expressão ‘futuros contingentes’, no plural, apanha essa ideia. Mas que ideia, exatamente, está sendo apanhada? Se tudo o que você quer dizer é que pelo menos alguns acontecimentos futuros podem acontecer, e também podem não acontecer, essa é uma estranha maneira de falar. Você não diz que vai praticar mais esporte em um futuro, mas simplesmente no futuro – mesmo quando não está convencido de sua força de vontade.
Sob esse aspecto, a ideia de futuros contingentes é como a de “mundos possíveis”: uma imagem. A pior coisa que você pode fazer com ela é tomá-la ao pé da letra. (Quando tomamos essa imagem ao pé da letra, é como se o que ainda não aconteceu estivesse aí, em algum lugar, aguardando para acontecer: ‘Há muitos futuros possíveis’ soa como ‘Há pregos de diversos tamanhos na caixa de ferramentas que deixei na garagem’. Mas, quando você diz que há muitos futuros possíveis, como quer que eu entenda o verbo ‘haver’ nessa frase? Não como um quantificador, suponho.)
Veja, eu não estou dizendo que algo está errado com a expressão ‘futuros contingentes’. Eu estou dizendo que ela é a expressão de uma imagem, e que é assim que deve ser tomada. (Em particular, eu não estou dizendo que só há um futuro, ao invés de muitos. O que eu estou dizendo é, antes, que não consigo atribuir nenhum sentido claro à frase ‘Só há um futuro’ ou à sua negação ‘Há mais de um futuro’, porque não sei em que sentido devo dizer, sem mais, que há ou não há algo como o(s) futuro(s). Por certo, posso imaginar circunstâncias em que seria perfeitamente sensato dizer uma coisa ou outra. Mas aí acontece algo curioso: quando eu considero essas circunstâncias, é como se as palavras estivessem dizendo menos do que tínhamos esperado que dissessem. Se, por exemplo, tudo o que ‘Há mais de um futuro’ significa é que algumas coisas podem acontecer, e também podem não acontecer, então, por certo, não há nada errado com essa frase – mas aqui é importante o ‘se’; e, também, o sentimento que temos de que, nesse caso, todo o interesse que a frase tinha para nós desaparece. Eu não quero subestimar esse sentimento: ao reconhecê-lo pelo que é – uma expressão do que, para nós, importa e do que não importa – defrontamo-nos com uma tarefa à qual, se não estou enganado, deveria ser reservado o nome de ‘filosofia’. Mas eu estou-me antecipando.)
Por via das dúvidas, eu vou falar em acontecimentos futuros, ao invés de futuros (contingentes, necessários ou impossíveis) – e direi, quando for o caso, que um acontecimento futuro é necessário (não pode não acontecer), impossível (não pode acontecer) ou contingente (pode acontecer e pode não acontecer). Talvez pudéssemos reservar o termo ‘contingências futuras’ para os acontecimentos da última classe.
‘Pode acontecer’, ‘não pode não acontecer’: até aqui falamos de modalidades; onde é que o Princípio de Bivalência entra nessa história? Se não me engano, assim: você diz que a verdade ou falsidade do que dizemos (sobre acontecimentos futuros) tem uma relação com a modalidade. Mas você não está pensando na distinção entre verdades (ou falsidades) necessárias e contingentes; você está pensando na distinção entre algo (que dizemos ou pensamos) ter um valor de verdade (não importa qual) e não ter nenhum valor de verdade. Se estivermos de acordo em usar o termo ‘proposição’ para designar algo que dizemos ou pensamos – ao menos quando o que dizemos ou pensamos é a espécie de coisa que pode, em princípio, ser dita verdadeira ou falsa –, então a tese que nos interessa fica assim: se algo ainda não aconteceu, mas tanto pode acontecer como não acontecer, a proposição que afirma ou nega que isso vai acontecer não é nem verdadeira nem falsa, mas será uma coisa ou outra conforme isso aconteça ou deixe de acontecer. Assim, mesmo se ‘p ou não-p’ é verdadeiro
para qualquer valor de ‘p’ (o que não está em questão), de ‘É verdade que (p ou não-p)’ não se segue ‘É verdade que p ou é verdade que não-p’. Em outras palavras, se há contingência no futuro, é preciso distinguir entre o Princípio do Terceiro Excluído e o Princípio de Bivalência. Enquanto o primeiro tem, presumivelmente, aplicação universal, o segundo não vale para as proposições que descrevem contingências futuras – acontecimentos que, como uma batalha naval, podem acontecer ou não acontecer.
A primeira dificuldade que eu agora tenho com essa ideia pode parecer uma tolice; mas então eu gostaria de saber como contorná-la. Acontece que, para separar assim o Princípio do Terceiro Excluído do Princípio de Bivalência, você precisa de uma distinção entre ‘É verdade que p’ e ‘p’ que eu tenho dificuldade em encontrar (ou, em todo caso, que eu não encontro onde deveria estar, para ter a consequência que você espera que tenha). Pois, se essas duas expressões são equivalentes, então ‘É verdade que (p ou não-p)’ e ‘É verdade que p ou é verdade que não-p’ são, ambas, equivalentes a ‘p ou não-p’ – e, em consequência, equivalentes entre si. Dizer que é verdade que vai chover amanhã é dizer que vai chover amanhã – e a distinção que você queria fazer não sai do chão.
Você vai protestar que a introdução do conceito de equivalência embaralha as coisas – que justamente aí reside a tolice da objeção. Você, afinal, não está dizendo que as “condições de verdade” de ‘p’ e de ‘É verdade que p’ não são as mesmas – que elas não são, neste sentido, equivalentes. A distinção que você quer fazer não é “extensional”, mas “intensional”.
Como você quiser: mas eu ainda quero saber em que consiste essa distinção.
Tudo o que você disser sobre espécies de animais que têm coração pode ser dito, preservado o valor de verdade, de espécies de animais que
têm rim. Mas você pode explicar (não pode?) a diferença entre ter coração e ter rim. E ninguém que entenda o que significa ‘ter coração’ e o que significa ‘ter rim’ se arriscaria a dizer que a frase ‘Os celenterados não têm coração’ diz o mesmo que a frase ‘Os celenterados não têm rim’. De resto, para saber que as “condições de verdade” das duas proposições coincidem não basta saber português: é preciso estudar biologia, também.
Mas o que é que a frase ‘É verdade que amanhã vai chover’ pode dizer que ‘Amanhã vai chover’ já não diga? Que as “condições de verdade” de ‘Amanhã vai chover’ estão “satisfeitas”? Isso é brincar com as palavras. Pois em que consiste “estarem satisfeitas as condições de verdade” de ‘Amanhã vai chover’ senão no fato de que amanhã vai chover?
Você diz que esse fato ainda não aconteceu? Muito bem; mas eu digo que vai acontecer. E, para dizê-lo, tudo o que eu preciso dizer é: ‘Amanhã vai chover’. (E não é objeção a isso que eu não tenha certeza, ou que minha certeza não esteja justificada. O que é que a certeza tem a ver com o significado do que eu estou dizendo?)
Você diz que as “condições de verdade” de minha afirmação ainda não estão satisfeitas? Mas o que isso significa senão que o que vai (ou não vai) acontecer ainda não aconteceu?
(‘As condições estão satisfeitas’: se você insiste em dar uma interpretação temporal a essa frase, tudo o que ela pode estar dizendo é que algo aconteceu. Bem, não é de surpreender que o que ainda não aconteceu não tenha ainda acontecido. Você está vendo por que eu escrevo ‘estarem satisfeitas as condições de verdade’ entre aspas. Mais uma vez: a pior coisa que você pode fazer com uma imagem é tomá-la ao pé da letra. Mas o uso do cachimbo entorta a boca: que a expressão ‘condições de verdade’ evoca uma certa imagem da verdade – do “acordo” ou “ajuste” entre pensamento e realidade – passa despercebido, a tal ponto nos acostumamos com esse jargão.)
Antes que eu me esqueça: as “condições de verdade” de ‘Amanhã vai chover’ estão “satisfeitas” se, e somente se, amanhã vai chover. (Ou, por outra: se você insiste em dizer que essas condições ainda não estão satisfeitas, pelo menos leve em conta que isso é trivialmente verdadeiro para qualquer proposição no tempo futuro – independentemente de quaisquer considerações sobre contingência ou necessidade.)
Eu espero que esteja claro que a dificuldade que estou suscitando não envolve uma petição de princípio contra a ideia de uma proposição sem valor de verdade. Não é por admitir que ‘É verdade que p’ diz o mesmo que ‘p’ que eu estou compelido a dizer que toda proposição é verdadeira ou falsa. Tudo o que estou dizendo é que ‘É verdade que p’ compartilha as vicissitudes de ‘p’: se a segunda não é nem verdadeira nem falsa, tampouco a primeira pode ser uma ou outra coisa. A questão é saber se podemos distinguir, nos termos em que havíamos imaginado, o Princípio do Terceiro Excluído do Princípio de Bivalência. Pois isso dependia de que encontrássemos uma interpretação de ‘É verdade que p’ que barrasse a distribuição de ‘É verdade’ em ‘É verdade que (p ou não-p)’. Mas encontrar essa interpretação é o mesmo que explicar em que consiste a diferença entre ‘O orçamento da Previdência vai estourar antes do fim do ano’ e ‘É verdade que o orçamento da Previdência vai estourar antes do fim do ano’. (Bem, espero que não seja verdade.)
Se não estou enganado, há uma diferença – mas apenas porque ‘É verdade’ é uma expressão ambígua, que podemos empregar para dizer pelo menos duas coisas diferentes. E, se não estou enganado, uma vez que reconhecemos essa ambiguidade, a impressão de que a contingência do futuro é incompatível com o Princípio de Bivalência perde todo o interesse que parecia ter. (Por que eu digo ‘perde todo o interesse’ ao invés de dizer que o que descobrimos é que essa concepção estava errada? Se você quiser, é uma questão de ênfase. Mas eu não gostaria de continuar alimentando a ideia de que, em filosofia, saber “quem tem razão” é tão importante quanto saber por que estamos interessados naquilo que nos interessa.)
Se você me diz que não é verdade que Marta vai andar de bicicleta amanhã, uma coisa que eu posso estar interessado em saber é se a correia da bicicleta dela arrebentou de novo, ou o que foi que a fez mudar de ideia. Mas se eu pedisse esse tipo de explicação, e você respondesse que não quis dizer que ela não vai andar de bicicleta, apenas que não é certo que vá fazê-lo, eu não poderia dizer que você está se contradizendo.
Imagine uma linguagem em que a expressão ‘É verdade’ só fosse empregada nos casos em que nós diríamos ‘É certo’ ou ‘É necessário’. Nessa linguagem, ‘Não é verdade que Marta vai andar de bicicleta amanhã’ nunca seria tomado como a negação de ‘Marta vai andar de bicicleta amanhã’.
É certo que vai chover ou não vai chover. Mas daí não se segue que é
certo que vai chover ou é certo que não vai chover. (Em ‘◻(p ∨ ¬p)’ o
operador ‘◻’ também não pode ser distribuído: de ‘◻(p ∨ ¬p)’ não se segue ‘(◻p ∨ ◻¬p’). Do mesmo modo, quando ‘É verdade’ significa ‘É certo’ ou ‘É necessário’, ‘É verdade que vai chover ou não vai chover’ não implica ‘É verdade que vai chover ou é verdade que não vai chover’.)
Assim, a interpretação da expressão ‘É verdade’ de que precisávamos para barrar a passagem de ‘É verdade que (p ou não-p)’ a ‘É verdade que p ou é verdade que não-p’ está disponível – e é uma interpretação natural dessa expressão em um uso que nada tem de anômalo ou aberrante. O único “problema” com essa interpretação é que ela é rigorosamente obediente ao Princípio de Bivalência. Para percebê-lo, é suficiente notar que, para negar a frase ‘É certo que vai chover’, tudo o que eu preciso dizer é ‘Não é certo que vai chover.’ (E não: ‘É certo que não vai chover’).
Do mesmo modo, se o que você quer dizer com ‘É verdade que e vai
acontecer’ é que e é um acontecimento certo (que e é necessário, que e é
inevitável, que a ocorrência de e está determinada), então a negação dessa frase não é ‘É verdade que e não vai acontecer’, mas (o que, neste caso, é uma coisa muito diferente) ‘Não é verdade que e vai acontecer’.
Você diz que não tem em vista a ideia de certeza (ou a de necessidade), mas simplesmente a de “ser verdadeiro no tempo t”. O conceito raso de verdade ganha agora um parente próximo, o de verdade-em-t. Mas você ainda me deve uma explicação da diferença entre verdade-em-t e certeza (ou necessidade).
Uma consequência da introdução desse conceito (se é que algum conceito está sendo introduzido, que é justamente o que eu duvido) pareceria ser, em todo caso, que, além de ‘É verdade que...’ ou ‘A frase ‘...’ é verdadeira’, deveríamos dispor de expressões como ‘Já é verdade que...’ e ‘Ainda não é verdade que...’; de coisas como ‘foi verdadeiro’, ‘será verdadeiro’, ‘é verdadeiro agora’; e por aí afora. (Mas, ainda uma vez, é possível achar uma serventia para cada uma dessas expressões. Eu posso dizer, por exemplo, que “ainda não é verdade” que perdemos a guerra – mas isso é apenas um modo de dizer que a guerra ainda não acabou, e muita água ainda pode rolar; em outras palavras, que ainda não perdemos a guerra; que a frase ‘Ainda não perdemos a guerra’ é verdadeira; que é verdade que ainda não perdemos a guerra. Eu posso dizer que “não é mais verdade” que Paris é a capital do mundo, mas o que estou dizendo, então, é que Paris não é mais a capital do mundo. Etc. etc. Mas, se não me engano, não era nada disso que você queria dizer. O que é que você queria dizer?)
Quando você diz que “não é verdadeiro agora” que Marta vai andar de bicicleta amanhã, você não está querendo dizer que não é verdadeiro que agora Marta vai andar de bicicleta amanhã – que a frase ‘Agora Marta vai andar de bicicleta amanhã’ não é verdadeira; que é falso que Marta vai andar de bicicleta amanhã agora: você não está querendo dizer nenhum absurdo desses. O que você está querendo dizer (não é isso?) é que o que Marta vai fazer amanhã não está decidido – que o destino dela não está “escrito nas estrelas”. Mas, então, tudo o que você quer dizer é que não é necessário que Marta ande de bicicleta amanhã.
Você diz que uma proposição sobre um “futuro contingente” não é verdadeira agora porque o fato que a tornaria verdadeira “ainda não existe”. É sintomático que você não esteja inclinado a generalizar essa observação para todas as proposições sobre o futuro. Pois você também diz que se o Princípio de Bivalência valesse universalmente, não haveria contingência no futuro.
No caso dos acontecimentos futuros necessários, portanto, é como se o que ainda não aconteceu já estivesse, de algum modo obscuro, acontecendo: como se o futuro já fosse, misteriosamente, presente.
O fantasma que ronda essas meditações é, afinal, o de um futuro que de algum modo já está acontecendo: como se uma proposição sobre o futuro só pudesse ser verdadeira caso o que vai acontecer de algum modo já estivesse aí, em algum lugar, aguardando para entrar em campo. (E esse fantasma é solidário de uma certa imagem da necessidade – a necessidade imaginada como um fato –; e, com ela, de uma certa imagem da verdade – do “acordo” entre pensamento e realidade. Nessa imagem, a verdade é uma espécie de justaposição: aqui a proposição, aqui o fato que a torna verdadeira. De modo que, como o fato (ainda) “não existe”, não “há” nada para tornar verdadeira –’ ou falsa – a proposição.)
Você diz: a proposição não pode ter nenhum valor de verdade, a menos que o futuro já esteja determinado – e ‘determinado’ aí significa algo como: já-de-algum-modo-presente (no ventre do presente, como um pinto no ovo).
Nessa fantasia, os fatos que “ainda não existem” (no tempo t = o presente) são fatos que existem em certo tempo (t’ = o futuro) – o tempo que “torna verdadeira” a proposição: a ocasião de descontar o cheque no
caixa.
O fato aguarda, a certa distância no tempo, enquanto a proposição se encaminha até ele, como a composição sobre os trilhos.
A ideia (que exerce uma atração hipnótica) é que se o futuro não é indeterminado (e ‘indeterminado’ quer dizer: o acontecimento futuro não está aí, acontecendo no futuro), então está determinado: e, neste caso, o fato já está acontecendo, já “existe”, ressalvada nossa limitação epistêmica – pois nossos poderes de predição são limitados: ainda não sabemos, talvez nunca saibamos).
Na bola de cristal, o futuro já está acontecendo.
Você quer uma conclusão? Tudo o que eu posso dizer por enquanto é que, até onde consigo enxergar, a contingência do futuro não tem nada a ver com o Princípio de Bivalência. Dizer que p é verdadeiro-em-t (se você insiste em falar assim) não é dizer que p é verdadeiro. E dizer que uma proposição descrevendo uma contingência futura não é nem verdadeira-em-t nem falsa-em-t não é dizer que ela não é nem verdadeira nem falsa.
Espero que esteja claro que nada disso importa em uma “defesa do Princípio de Bivalência”. Eu não estou dizendo que toda proposição é verdadeira ou falsa: por quanto sei, bem pode ser que nem todas o sejam – é mesmo o que eu espero.
Mas não era disso que se tratava aqui: de defender ou atacar o Princípio de Bivalência. Tudo o que eu queria era entender por que estamos inclinados a negar que ele tenha aplicação neste caso.
De modo que, se você perguntar se eu estou satisfeito, e agora posso dormir de novo, receio que a resposta deva ser: ainda não.
Adendo: como continuar
-
As observações precedentes não fazem mais do que puxar a ponta de um fio comprido e enredado. Eu gostaria de indicar, sumariamente, em que direção essa tentativa de acertar contas com o fantasma do “determinismo” deveria prosseguir – ao menos, até onde consigo enxergar. (Essas indicações esquemáticas podem ser tomadas como uma promessa ou um convite. No primeiro caso, tudo o que você tem a fazer é esperar que eu escreva a continuação destas notas. No segundo, tudo o que eu tenho a fazer é esperar por alguma resposta. E, é claro, tanto eu posso alegar depois que não prometi nada como você pode me lembrar que convites precisam ser aceitos para justificar expectativas. Com isso, parece-me, estaremos quitados. Mas eu também não disse que aquela era uma disjunção exclusiva.)
-
Seja como for, parece-me que o próximo passo deveria partir da observação de que eu poria a perder o pouco que consegui ganhar até aqui se pretendesse extrair, das considerações precedentes, o lema ‘A verdade é atemporal’. Esse lema parece estar negando que a verdade é temporal – e eu, pelo menos, não sei o que isso significa.
-
Mas dizer que eu não sei o que isso significa não é o mesmo que dizer que as frases ‘A verdade é temporal’ ou ‘A verdade não é temporal’ não passam de contrassensos. (Se você se dá por satisfeito(a) com essa constatação, a diferença entre nós é, mais uma vez, uma diferença de interesse: eu não estou dizendo que você está errado(a).) Pois tanto os que afirmam como os que negam que a verdade é temporal estão invocando uma imagem comum da verdade – do “acordo” entre pensamento e realidade. Essa imagem é enganosa, mas não é gratuita. (A “atemporalidade” da verdade reside nisso, que o boletim meteorológico que disse ontem que hoje ia fazer sol em Highland Park estava certo – que o que ele disse era verdade. A “temporalidade” da verdade reside nisso, que uma previsão de sol para amanhã só é verdadeira se amanhã fizer sol.)
-
A imagem que é compartilhada pelos que afirmam e pelos que negam a “atemporalidade” é a da verdade como presença. (Se você acha isso muito “metafísico”, pergunte: por que o presente é o tempo verbal que corresponde à eternidade?)
-
Essa imagem não é gratuita: o que se expressa na imagem da verdade como presença é uma relação interna entre os conceitos de verdade e verificação – ou, se você preferir, entre verdade e acessibilidade (na eternidade, todo o ser é acessível: nada deixou de ser, nada está por ser). Portanto, quando um filósofo imagina que, ao afirmar ou negar que a verdade é temporal, está propondo uma tese, o que está fazendo é tomar ao pé da letra (como se fosse uma descrição) a imagem da verdade que corresponde à exigência de acessibilidade: a exigência de que, para decidir se uma proposição é verdadeira ou falsa, precisamos ter acesso, de algum modo, ao lugar e ao tempo em que a questão se decide.
-
Uma última observação: essas considerações têm consequências óbvias para a avaliação da ideia de que existe uma ‘incompatibilidade’ entre conhecimento e ação, no sentido de que o mesmo evento não poderia ser objeto de conhecimento e de ação – não, em todo caso, ‘sob a mesma descrição’.[5] O exame dessas consequências (e, em particular, de sua pertinência para a elucidação do conceito de responsabilidade moral) é, a meu ver, a parte mais importante da tarefa remanescente.
Nota bibliográfica
As notas que precedem não passam de uma indicação muito provisória da direção em que eu gostaria de prosseguir. Mesmo este pouco, entretanto, traz a marca de dívidas contraídas para com diversos filósofos. Se eu não aprendi tudo o que eles tinham a ensinar, isso apenas atesta minhas próprias limitações. Em qualquer hipótese, a responsabilidade pelo resultado é exclusivamente minha.
Depois de ter “perdido o sono”, a primeira coisa que me ocorreu fazer foi, naturalmente, reler Aristóteles. Eu sempre tinha pensado que a rejeição da bivalência era a solução aristotélica do problema dos futuros contingentes. Quando, para minha surpresa, comecei a duvidar dessa interpretação, minha reação inicial foi pensar que, se não era isso o que Aristóteles tinha querido dizer, pelo menos era o que ele deveria ter querido dizer. Fui convencido de que, em ambos os casos, estava errado estudando o comentário de Elizabeth Anscombe ao capítulo 9 do De Interpretatione (Anscombe, 1956) Na tentativa subsequente de esclarecer minhas próprias dificuldades, encontrei auxílio na leitura de pelo menos outros quatro filósofos. A necessidade de distinguir o conceito ordinário de verdade do conceito de “verdade-em-t”, o caráter modal deste último e seu parentesco com o conceito ordinário de certeza, tudo isso pode ser encontrado (junto, é verdade, com muitas outras coisas, nem todas igualmente esclarecedoras) no livro de Von Wright, Truth, knowledge and modality (Von Wright, 1984). A ideia, para mim ainda mais importante, de que a aparência de um conflito entre a contingência do futuro e a bivalência é alimentada por uma certa imagem da verdade (e da necessidade) provém de Rogers Albritton, num artigo que (vá lá, depois de Aristóteles) é provavelmente a melhor coisa que eu já li sobre os “futuros contingentes”. (Albritton, 1957). Minhas observações sobre os “fatos que ainda não existem”, nestas notas, são pouco mais do que uma paráfrase de Albritton.) Mas eu dificilmente saberia o que fazer dessa ideia, e certamente teria muito mais dificuldade para entender o artigo de Albritton, se não tivesse sempre presente, desde que o li pela primeira vez, o estudo maravilhoso de Cora Diamond sobre a ‘fisionomia da necessidade’ (Diamond, 1991). A ideia, esboçada no Adendo, de que a doutrina da “atemporalidade” da verdade é uma projeção distorcida das relações entre verdade e verificação ocorreu-me pela primeira vez lendo Sobre a certeza, de Wittgenstein (ver §§ 199-203 e 214-15. Essas observações devem ser comparadas com o que Wittgenstein escreve sobre ‘atemporalidade’ no Tractatus Logico-Philosophicus, 6.4311, e, especialmente, nas Observações Filosóficas, § 48).
Referências
Ackrill, J.L. Aristotle’s ‘Categories’ and ‘De Interpretatione’. Clarendon Aristotle Series. Oxford: Clarendon Press, 1963. [Internet Archive], [Amzn]
Albritton, Rogers. Present truth and future contingency, The Philosophical Review, Vol. 66 (1957): 29-46.
Anscombe, G.E.M. Aristotle and the sea-battle. In: The collected philosophical papers of G.E.M. Anscombe, Vol. I: From Parmenides to Wittgenstein, pp. 44-56. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1981. [Internet Archive], [Amzn]
Diamond, Cora. The face of necessity. In: The realistic spirit, pp. 243-66. Cambridge, Mass.: MIT, 1991. [Amzn]
Von Wright, G.H. Truth, knowledge and modality. Oxford: Basil Blackwell, 1984. [Internet Archive], [Amzn]
Wittgenstein, Ludwig. On certainty - Über Gewissheit, ed. G.E.M. Anscombe & G.H. von Wright, tr. Denis Paul & G.E.M. Anscombe. New York: Harper & Row, 1972. [Internet Archive], [Amzn]
O meu problema não é, ao menos por enquanto, o de saber se aquela solução é verdadeira. Eu quero tirar a limpo o que ela significa: essa é minha dificuldade. ↩︎
A observação ocorre na Epistola in Carcere et Vinculis (De Profundis). ↩︎
Observe, a propósito, que, no sentido em que o passado é necessário, também o é o presente: se está fazendo sol em Highland Park, então não é possível que não esteja fazendo sol em Highland Park. Essa observação, a propósito, não introduz nenhuma “necessidade meteorológica”; tampouco a exclui. ↩︎
Eu recorro propositalmente a um exemplo em que, além da causalidade das “leis da natureza”, está em jogo ainda uma outra variedade de necessidade.
5 O Todo-Poderoso poderia ‘acrescentar ao número de suas pilhérias’ (para falar como Stephen Dedalus no Ulysses) a extinção do mundo antes que o que está por acontecer aconteça: por suposição, ainda que o que estava por acontecer não pudesse, chegado o dia, não acontecer, nada poderia tolher Sua augusta decisão de que esse dia nunca chegasse. (Nota acrescentada durante a revisão, em julho de 2012.) ↩︎“[...] parece haver uma espécie de inconsistência entre [algo] ser um objeto de contemplação e ser um objeto de ação; se há algo em algum lugar para ser visto e contemplado, então é algo que está além de ser determinado por nossa ação, ao passo que se há algo que podemos realizar ou prevenir por nossa ação, então é algo que é, nessa medida, opaco ao olho contemplativo”, (Arthur N. Prior, Papers on time and tense [Oxford: Clarendon Press, 1968], p. 46). A ideia constitui um dos pilares da filosofia da ação proposta por Arthur C. Danto em Analytical philosophy of action (Cambridge: Cambridge University Press, 1973). ↩︎

Arquipélago Filosófico, Vol. 1, No. 13 (2025), e-013
ISSN 3086-1136