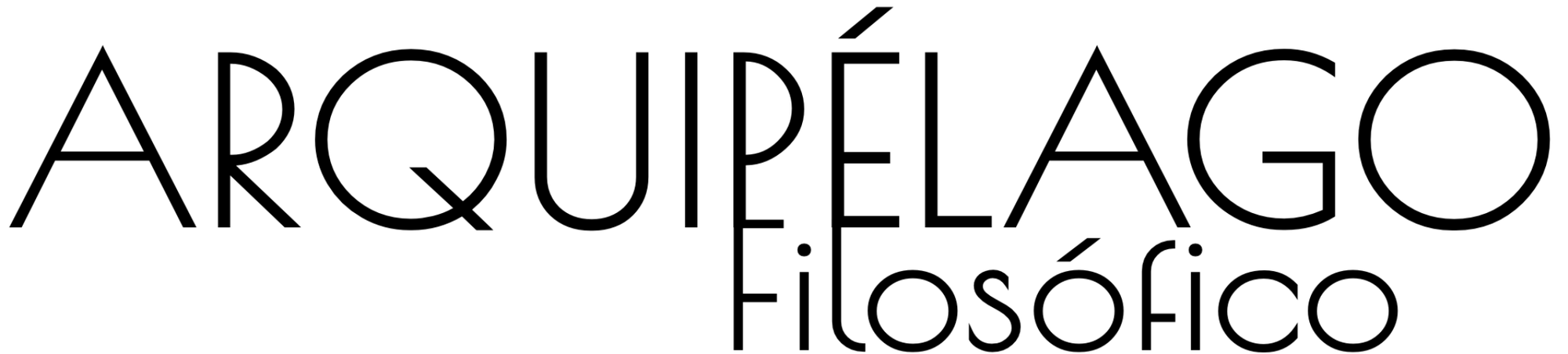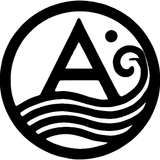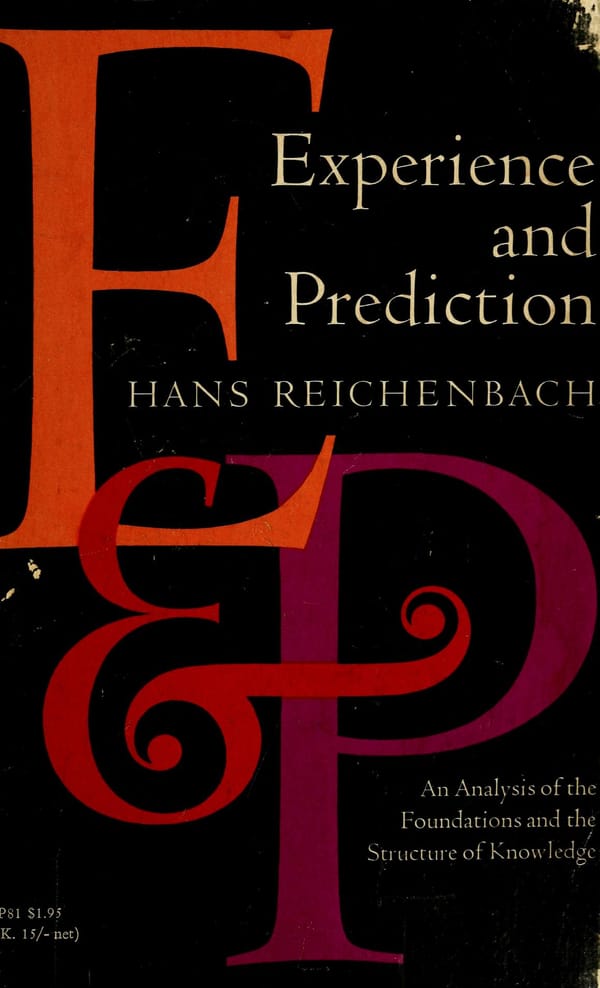Michael Dummett, O que é uma questão filosófica?

Tradução de “What is a philosophical question?”, de Michael Dummett, por Eros M. Carvalho (UFRGS). Texto originalmente publicado em: Dummett, M. The nature and future of philosophy (New York: Columbia University Press, 2010, p. 8-12). Michael Dummett (1925-2011) foi professor de filosofia na Universidade de Oxford, Inglaterra.
O que é uma questão filosófica?
Michael Dummett
Acerca do que é a filosofia? Para Quine e alguns filósofos americanos contemporâneos, a filosofia é simplesmente a parte mais abstrata das ciências. Ela não faz, é verdade, quaisquer observações ou conduz experimentos próprios; mas ela pode e deveria incorporar as descobertas da ciência ao construir uma teoria naturalizada do conhecimento e da mente. Portanto, propriamente falando, ela deve ser classificada junto com as ciências naturais. Wittgenstein manteve a opinião contrária. Para ele, a filosofia firma-se em contraste completo com a ciência: seus métodos divergem totalmente daqueles da ciência, e o seu objetivo difere na mesma extensão. Provavelmente a maioria dos filósofos atuais concordaria com isto e acrescentaria que os resultados da filosofia diferem fundamentalmente em caráter daqueles das ciências. Wittgenstein foi mais radical. Ele não pensava que a filosofia tinha algum resultado, na forma de proposições enunciáveis que ela descobriu serem verdadeiras; a filosofia meramente projeta luz sobre o que nós já sabemos a partir de outras fontes, habilitando-nos a vê-lo com olhos desanuviados de confusão intelectual.
A melhor maneira para julgar este desacordo e dizer acerca do que é a filosofia e por que meio ela procede é considerar um exemplo de problema filosófico. Pelas razões explicadas no capítulo anterior, foi só a partir do século dezenove que começou a fazer sentido perguntar por um exemplo de um problema filosófico como oposto a um problema de algum outro tipo; mesmo agora pode muito facilmente haver disputa sobre se um ou outro problema particular é genuinamente filosófico ou não. Mas há casos paradigmáticos de problemas que todos concordariam que são filosóficos distintivamente. Um é este: o tempo realmente passa? Alguns podem dizer que ele passa evidentemente: o mundo muda quando novos eventos ocorrem; estes eventos estão previamente no futuro e no devido tempo estarão presentes e ficarão para trás no passado. Mas alguns negam que o tempo passa nesse sentido. Há relações temporais entre eventos certos eventos precedem temporalmente outros — mas isto é tudo que há no tempo: ele ser uma dimensão na qual os eventos têm localizações diferentes.
Isto é claramente um desacordo filosófico. Ele é, na verdade, um desacordo metafísico: ele diz respeito à natureza, não da mente humana ou do comportamento humano, mas da realidade exterior. Diante deste desacordo, como um filósofo procede? Ele pode começar pedindo aos defensores da passagem do tempo para esclarecer a concepção deles. O que, ele pode perguntar, eles pensam que há? Alguns podem responder que o que ainda está para ser não é, e que o que cessou de ser não é: tudo que há é o que existe agora. Isto significa, pergunta o filósofo, que enunciados sobre o que acontecerá ou sobre como as coisas eram antigamente não são nem verdadeiros, nem falsos? Pois, ele insiste, um enunciado pode ser verdadeiro apenas se há algo em virtude do qual ele é verdadeiro: assim, se tudo o que há é o que existe agora, nenhum enunciado sobre o futuro ou sobre o passado pode ser verdadeiro. Alguns podem concordar entusiasticamente. A realidade, eles dizem, está em constante mudança. Os únicos enunciados verdadeiros são aqueles que representam a realidade como ela é, isto é, como ela é agora; não pode haver nenhuma verdade sobre como ela será ou como ela foi.
Outros defensores da passagem do tempo podem dar uma resposta mais moderada. Eles podem insistir que o filósofo está esquecendo que o verbo “ser” tem tempos verbais. Se for perguntado o que há, no tempo presente, a resposta deve se restringir ao momento presente; mas há também respostas para as questões sobre o que haverá e o que houve. O princípio de que um enunciado pode ser verdadeiro apenas se há algo em virtude do qual ele é verdadeiro negligencia a natureza flexiva do verbo “ser”: ele deve ser “verdadeiro apenas se há, haverá, ou houve algo em virtude do que ele é verdadeiro”. O que, então, diferencia essa visão, pergunta o filósofo, daqueles que negam a passagem do tempo? Aquelas pessoas deixam de fora da sua descrição da realidade um fato essencial, a saber, que certos eventos ordenados por uma sequência temporal estão ocorrendo agora.
O cético responde que a questão “que evento está acontecendo agora?” meramente pergunta que evento é simultâneo com fazer a questão, que é ele mesmo apenas outro evento. Não, seu oponente responde. Quando uma experiência dolorosa cessa e eu exclamo, “Graças a Deus que ela se foi”, eu não estou de posse de uma mera relação de precedência temporal, diz ele, pois eu sabia antecipadamente que eu deveria dizer, “Graças a Deus que ela se foi”, e que eu dizer isto aconteceria apenas depois da experiência chegar a um fim. O oponente da passagem temporal retruca que tudo isso significa apenas que o nosso sentimento de alívio, em vez de preceder, se segue ao término da experiência dolorosa: trata-se ainda apenas de uma questão de sequência temporal.
O defensor da passagem do tempo pode agora objetar que o seu oponente está espacializando o tempo, tratando-o apenas como mais uma dimensão em acréscimo às três do espaço. Isto, ele diz, abole o tempo, visto que ele não permite a realidade da mudança, enquanto a mudança é da essência do tempo. O seu oponente retruca que ele reconhece a mudança: há mudança sempre que uma proposição verdadeira é convertida em uma falsa substituindo alguma especificação temporal que ocorre nela por uma diferente[1]. “Isto é o que eu quero dizer”, o defensor da passagem do tempo pode exclamar: “você poderia definir ‘mudança espacial’ substituindo ‘especificação temporal’ por ‘especificação de lugar’; mas o fato de que há grama neste lugar e nenhuma a um quilômetro de distância não envolve que alguma mudança ocorreu ou esteja ocorrendo”. “Isto é contrário à maneira que falamos”, pode-se retrucar, nós dizemos coisas como “O terreno muda para o leste do lugar”. “Apenas porque imaginamos nós mesmos percorrendo naquela direção”, o outro responde.
Não precisamos seguir o debate sobre esta disputa filosófica tão bem conhecida além disso; tomado até aqui, ela ilustra adequadamente o caráter de um argumento filosófico. A disputa certamente diz respeito à realidade: de acordo com a concepção que qualquer um tome em relação a ela, ele conceberá o mundo de um modo ou de outro. Mas a questão não será encerrada por meios empíricos: a teoria científica pode ser relevante para ela — por exemplo, é relevante que, segundo a teoria da relatividade, a simultaneidade é relativa a um ponto de referência. Mas a ciência não pode resolver a disputa: nenhuma observação poderia estabelecer que um ou outro lado está certo. Um filósofo procurará ou mostrar que um dos disputantes está certo e o outro errado, talvez após algum esclarecimento adicional das duas posições, ou dissolverá a disputa mostrando que ambos os lados são vítimas de alguma confusão conceitual. A filosofia está com efeito preocupada com a realidade, mas não em descobrir novos fatos sobre ela: a filosofia procura melhorar a nossa compreensão do que já sabemos. Ela não procura observar mais, mas clarificar a nossa concepção do que vemos. O seu objetivo é, na frase de Wittgenstein, ajudar-nos a ver bem o mundo.
Se o filósofo afirma ter resolvido um problema ou dissolvido ele como um pseudoproblema, ele procederá por argumento racional. A filosofia compartilha com a matemática a peculiaridade de que ela não apela a nenhuma nova fonte de informação, mas confia apenas no raciocínio sobre o que nós já sabemos. Ela difere da matemática em que ela prefere terreno lamacento. Os matemáticos às vezes engajam em análise conceitual, buscando definições de conceitos tais como equivalência numérica, continuidade e dimensão. Mas os seus objetivos diferem dos objetivos dos filósofos. Eles se preocupam pouco se a definição que eles obtiveram capturam o conceito como nós o entendemos implicitamente na vida ordinária: eles estão preocupados apenas em formular um conceito preciso sob o qual pode ser razoavelmente afirmado que qualquer caso determinadamente ou cai, ou não cai. Feito isso, a sua argumentação procederá dentro dos limites das definições que eles adotaram. O raciocínio do filósofo ocorre sobre a base da nossa compreensão implícita existente; ele apela a esta compreensão e, portanto, não é realizado, como é o do matemático, dentro de uma estrutura de conceitos já feita precisa.
Assim, o único recurso do filósofo é uma análise dos conceitos que já possuímos, mas sobre os quais estamos confusos; ele procura remover esta confusão. Se ele procura fazer isto por uma análise de expressões da nossa linguagem ou por algum outro meio é uma questão da sua metodologia filosófica; diferenças metodológicas podem ser agudas, mas o objetivo é o mesmo. No exemplo de disputa filosófica que examinamos, o filósofo não pode argumentar a partir da apreensão primitiva da sucessão temporal que pode ser atribuída a uma criança. A pergunta que estava em questão pode surgir apenas a um adulto para o qual as nossas maneiras de falar acerca do tempo na linguagem são conhecidas. Assim é estéril perguntar se a filosofia é sobre a realidade, sobre os conceitos em termos dos quais pensamos sobre a realidade, ou sobre os meios linguísticos que usamos para expressar esses conceitos. Ela diz respeito a nossa concepção da realidade ao procurar esclarecer os conceitos em termos dos quais a concebemos e, consequentemente, as expressões linguísticas por meio das quais formulamos a nossa concepção.
N.T. Por exemplo, a substituição de “1988” por “1998” em “A Constituição brasileira atual foi promulgada em 1988” — que é uma frase verdadeira — resultaria em uma frase falsa. ↩︎
O texto original, em inglês, pode ser consultado gratuitamente no Internet Archive e está à venda na Amazon.
Arquipélago Filosófico, Vol. 1, No. 11 (2025), e-011
ISSN 3086-1136