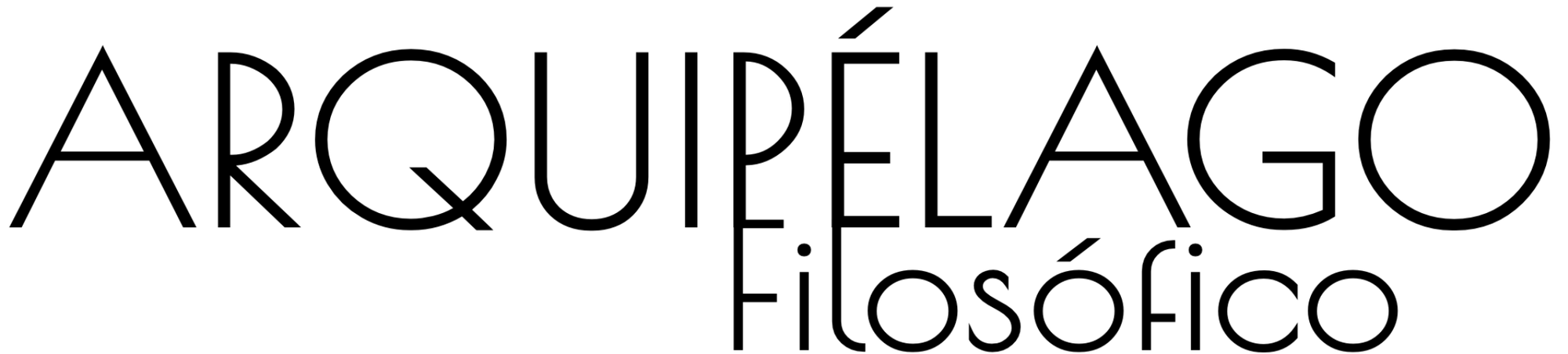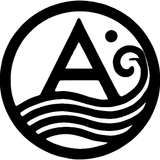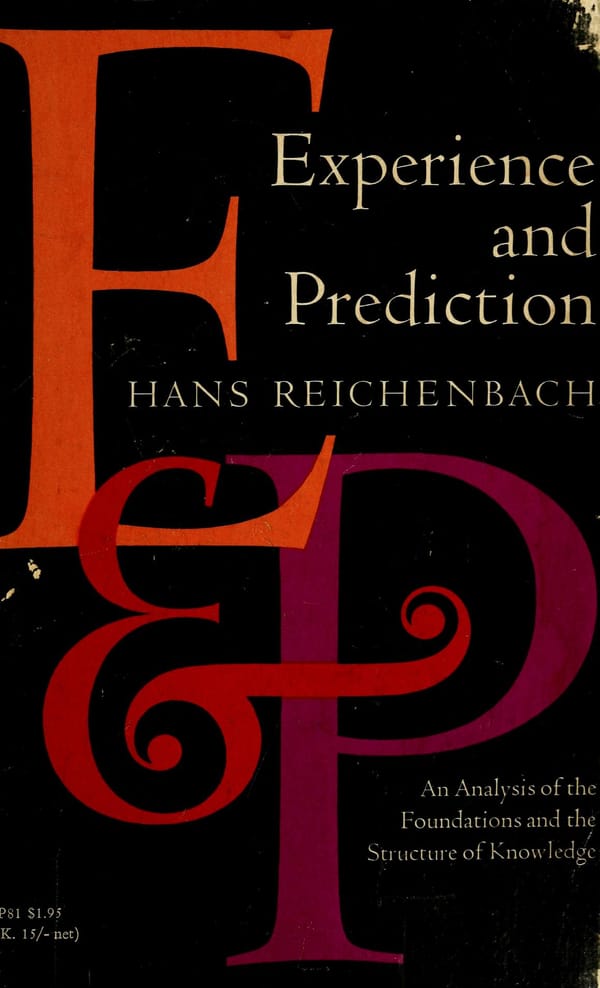Julián Marías, Sobre a origem da filosofia na Grécia
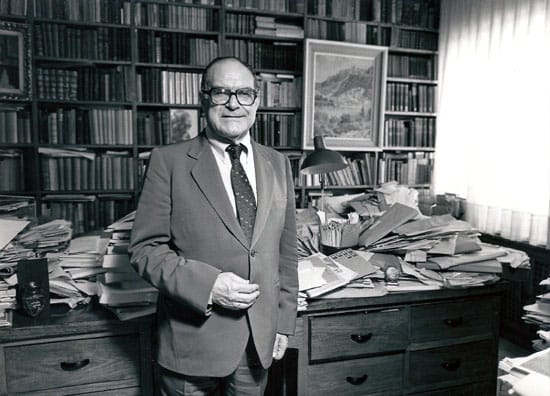
Julián Marías (1914-2005) foi um filósofo espanhol bastante influente no século XX. Discípulo de Ortega y Gasset, com ele fundou o Instituto de Humanidades, em 1948. Impedido de lecionar na Espanha durante o regime do General Franco, Marías trabalhou em diversas universidades americanas (Harvard, Yale, Wellesley, Oklahoma, UCLA) do final da década de 1940 até 1970.
O Arquipélago reproduz aqui um trecho do livro Biografia da filosofia. Dois professores entrevistados pelo site, João Carlos Brum Torres e Ronai Rocha, relataram que leram com muito apreço os livros de Julián Marías nas décadas de 1960 e 1970 e consideram a sua obra de grande valia ainda hoje.
Julián Marías
Sobre a origem da filosofia na Grécia
No século IV, o termo “filosofia” contava com dois séculos de uso na Grécia. No século VI, se havia iniciado uma nova forma de pensamento que, mais adiante, receberia esse estranho nome depois de vários ensaios cuja história detalhada seria necessário escrever. Em um ponto especialmente importante de sua Metafísica, Aristóteles refere-se àqueles que antes se dedicaram à investigação dos entes e “filosofaram acerca da verdade” (Peri tês alethéias); e pouco depois acrescenta, a respeito da opinião de Tales de Mileto: “Há também quem pense que os teólogos mais antigos, muito distanciados da geração atual, tiveram esta mesma opinião acerca da natureza: com efeito, fizeram Oceano e Tetis os progenitores da geração e os deuses juram pela água, que os próprios poetas denominam Estígia. O mais antigo é, realmente, o mais digno de ser honrado, e o juramento é o mais digno de ser honrado.” “Aristóteles – escrevi em outro lugar – distingue duas ocupações muito diversas: a dos antigos que ‘teologizaram’, e a dos modernos que ‘filosofaram’ (theologésantes, philosophésantes); e acentua que os primeiros já são remotos; isto é, que em meados do século IV a nova atitude já contava um longo tempo. Qual é esta? A meu ver, precisamente a que denominamos conhecimento; filosofar é filosofar ‘acerca da verdade’. Encontra-se com frequência esta expressão em Aristóteles e não significa desde logo nenhuma teoria da verdade, que seria inútil procurar entre os pré-socráticos; trata-se mais de uma indagação sobre as próprias coisas, de uma manifestação ou patenteação do que estas são de verdade ou no fundo. Nada disto poderia ser encontrado naqueles que disseram que o Oceano e Tetis fora os progenitores da geração, porque embora este mito nos permita saber, de certo modo, a que nos atermos em última instância, e por isso se aproxima da filosofia, o que faz é apelar das coisas a uma instância que lhes é alheia e para a qual não há caminho a partir do dado.”
Cabe agora perguntar: o que se fazia na Grécia antes do século VI para saber a que se ater, e por que a partir dessa época foi necessário fazer outra coisa? Naturalmente, não se fazia nada que se chamasse teologia; essa expressão é utilizada por Aristóteles, dentro de um a situação bem diversa, para em função dela interpretar o que fazer de seus remotos antepassados; a rigor o termo só é inteligível quando posto em boca de Aristóteles, historizado, referido ao contexto mental e social em que Aristóteles vivia.
É preciso considerar, primeiramente, que quando alguns homens começaram a filosofar, a maioria continuou a fazer o mesmo que antes. Somente a alguns poucos isto não bastou e então se puseram a fazer outra coisa que se denominaria, com o correr do tempo, filosofia, e que muito logo caiu mal a seus concidadãos, porquanto não compreendiam por sua vez o estranho mister daqueles homens. Diz Aristóteles que os homens anteriores à filosofia apelavam aos mitos; porém numa passagem da Metafísica antes citada declara que o amigo de mitos ou “filómito” é de certo modo filósofo, pois o mito se forma de prodígios; e em um fragmento de sua velhice acrescenta: “quanto mais solitário estou, mais amigo de mitos me torno”. Aristóteles quer significar que o mito representa algo análogo à filosofia, algo homólogo; mas este conceito de homologia é um conceito estático, e urge pô-lo em movimento. Mais exato é dizer que a filosofia é uma função vicária em relação a do mito; porque o mito não mais bastava, por ter acontecido algo – será necessário ver o que isso foi – tiveram os homens que substituir o mito pela filosofia.
Segundo o exemplo de Aristóteles, os “teologizantes” faziam de Oceano e Tetis os progenitores da geração; Tales dizia que “tudo é água”; a semelhança, quanto ao conteúdo, é manifesta; a diferença está no próprio sentido de um e outro dizer. Mediante o mito, os homens gregos anteriores à filosofia conseguiam a que se ater, mas isto não estava evidente no exemplo aduzido por Aristóteles, determinado pela referência a Tales e demasiadamente de professor; podemos entendê-lo melhor lendo a um historiador, a Heródoto ou Xenofontes.
Os gregos recorriam à adivinhação (manteía, mantiké) para se orientarem diante do futuro incerto, portanto para se decidirem. O exame das entranhas (tàhierá) das vítimas sacrificadas ou, ainda melhor, o decreto do oráculo, (manteîon) – Delfos, Dodona, etc. – permitem descobrir qual será o curso dos acontecimentos, tornando possível dessa maneira a escolha. No capítulo IV do livro VI da Anábasis– para trazer um exemplo ao acaso – Xenofontes conta-nos minuciosamente a conduta da expedição militar grega no porto de Calpe, na Trácia asiática. Xenofontes leva a efeito um sacrifício para saber se deve sair do acampamento (ep’exódo ethyeto); as entranhas mostram-se favoráveis (tàheirà kalà egéneto) e os cadáveres são enterrados. No dia seguinte, Xenofontes reúne as tropas e lhe diz que é evidente (dêlon) que se deve empreender a marcha por terra posto que não possuem navios; e que é necessário (anánke) se porem a caminho em seguida, porque não têm víveres; em vista disso, ordena um sacrifício; seu resultado é desfavorável e não se movem durante todo o dia. Alguns murmuram que Xenofontes fez com que o adivinho interpretasse desfavoravelmente o sacrifício, para lá permanecer e fundar uma cidade; no outro dia, se permite a todos que assistam ao sacrifício de três vítimas, o resultado é negativo e os soldados afligem-se porque lhes faltam os víveres. Em vista da situação, Xenofontes recomenda novos sacrifícios, e alguém diz que os presságios se justificam porque ouviu dizer que estão para chegar os navios; todos opinam que se deve esperar, mas que é necessário sair em busca de víveres. Imolam-se outras três vítimas sem presságio positivo; os soldados vão à tenda de Xenofontes e dizem-lhe que não possuem víveres; este declara que não os fará sair sem presságios favoráveis. Novos sacrifícios; o exército ansioso, circunda o altar; mas faltam as vítimas; como não têm ovelhas, compram bois de tiro e os sacrificam: o presságio ainda não é favorável. O estrategista Néon, vendo a terrível situação dos soldados e querendo agradá-los, organiza uma expedição com dois mil homens para conseguir víveres; a cavalaria inimiga os surpreende e mata a quinhentos. No dia seguinte, chega um navio de Heracléia com alguns víveres. Xenofontes torna a sacrificar: os presságios são favoráveis desde a primeira vítima; no final, o adivinho Arexión vê uma águia de bom augúrio, e aconselha a Xenofontes que se ponha a cominho. Finalmente o exército levanta acampamento.
Podemos ver como estes homens, em circunstâncias graves e opressivas, subordinam sua conduta ao resultado dos sacrifícios; apesar de considerarem evidente e necessário seguir um determinado comportamento, fazem justamente o contrário porque o presságio assim os indica; isto é, quando se trata a rigor e a sério de saber a que se ater, não é o juízo acerca dos dados patentes da situação e sim outra realidade oculta denunciada nas entranhas das vítimas, como outras vezes nas palavras sem alegria, sem ornatos nem perfume que dizia a Sibila com seus lábios delirantes. Qual é essa realidade e qual é o sentido dessa maneira de denunciar-se? Este é o problema.
Em outro lugar dei uma resposta pormenorizada a esta pergunta, ao examinar três modos de pensamento que não são conhecimento em sentido estrito: os ordálios dos primitivos, a “sapiência” e os oráculos gregos; aqui será o bastante citar alguns parágrafos. “Qual é o pressuposto dos oráculos helênicos, isto é, qual é o elemento latente que eles descobrem ou patenteiam? Em Heródoto encontra-se uma resposta a esta pergunta, particularmente clara: quando Creso, vencido e despojado por Ciro, manda perguntar a Apolo se não se envergonha de o ter enganado com seus oráculos délficos, conduzindo-o à guerra contra os persas e assim à sua perda, a Pítia, além de insistir na imprudência de Creso, que não se detivera na interpretação cuidadosa dos oráculos ambíguos, dá uma resposta decisiva: tèn peporménem moîram adínatá esti apophygeên kai theô – o destino fatal não pode ser evitado nem por um deus. O pressuposto do oráculo e também a razão de sua insuficiência e limitação é, pois, o destino, a moîra, superior aos próprios deuses – embora às vezes se identifique secundariamente com uma divindade, a Moîra –; nisso, reside, por sua vez, o móvel da tragédia grega. A moîra significa em primeiro lugar, a parte; é um vocábulo próximo a méros; esta parte é a porção reservada a cada um, aquilo que lhe toca por sorte e é portanto, a própria sorte; significa, outro tanto, o destino, o fado ou fatalidade, aquilo que acontecerá necessariamente, o que tem que ser. Esta realidade inelutável é alheia a toda vontade, à dos deuses inclusive, pois estes também se acham submetidos a ela; é pois, a estrutura inexorável do real com que se tem de contar irremediavelmente. Embora seja esta uma questão e que se reclamaria uma indagação delicada e minuciosa, poder-se-ia vislumbrar uma certa dimensão desta ideia da moîra um equivalente pré-teórico da ideia de natureza, mais ou menos como que uma versão mítica da physis... A natureza, definitivamente, é o imutável, aquilo que por não tolerar mudança é sempre seguro; pois bem, a moîra em termos míticos, implica a mesma exigência de segurança e imutabilidade; a razão última das coisas patentes esta em seu destino latente; mas, a rigor, não existe caminho para ir de um a outro e, por isso, o homem não pode chegar a ele, mas somente receber a certeza dos deuses, particularmente do oráculo.”
Em outras palavras, há uma absoluta descontinuidade entre a realidade patente e a latência em vista da qual tenho de orientar e decidir minha vida. Não me é possível ir ao latente, é este que tem que vir a mim por intermédio dos deuses; para ter acesso ao latente a partir das coisas que estão aí e com as quais me encontro, não há caminho; dito em grego, não há método. Ora, quando a vida se complica de modo suficiente, e o homem dispõem de algum ócio e certos recursos; quando possui um passado bastante longo e, portanto, um repertório de experiências vitais de toda índole, pode então projetar a longo prazo e com um mínimo de precisão, requerida pelo próprio conteúdo do projeto, cuja complexidade interna só assim é possível. Diante desta exigência, o homem necessita orientar-se em relação às coisas, em um sentido novo: não se trata agora de saber o que “acontecerá”, mas sim como as coisas se comportam por si mesmas e, sobretudo, como continuarão a comportar-se; e para isso necessita poder, ele próprio, ir do patente ao latente, especialmente ao comportamento futuro das coisas; necessita, portanto, um método, em seu sentido mais rigoroso. Esta necessidade irá ser a origem remota da filosofia.
Aos olhos do grego, as coisas apresentam-se como múltiplas e cambiantes. Sua multiplicidade e, sobretudo, sua caducidade, fazem com que o homem esteja numa posição de incerteza em relação a elas; e, no entanto, só com essas coisas, contando com elas, pode fazer sua vida. Ante o fato radical da caducidade das coisas, os gregos tomaram três atitudes bem diferentes: uma, a da poesia lírica, que se comove ante a fugacidade das coisas e dos homens que passam, extraindo dela um acento vital determinado; a segunda, a da história, que pretende salvar na lembrança as coisas passageiras, não todas, é certo, mas pelo menos as memoráveis; a história aparece, pois, como um remédio contra o esquecimento – assim, explicitamente, em Heródoto –; a terceira atitude leva à ideia de natureza, que é origem da ciência e da filosofia.
As coisas são, com efeito, primeiro umas e logo depois outras; sua mobilidade impede saber com que carta ficar: não se sabe o que continuará a ser o que tenho diante de mim, como se comportará no momento seguinte; mais ainda, nem se sabe se haverá tal coisa e se poderei contar com ela. Há, porém, um caso em que as coisas se tornam mais claras e em que se pode superar, até certo ponto, a sua fugacidade. É o caso da geração. O pai e o filho são dois, e são diversos, porém um vem do outro; um carvalho procede de sua semente. São coisas diversas, mas que, no fundo, são o mesmo. Na geração se pode passar de A a B e de B a A. Por via de identidade, porque no fundo são o mesmo.
Isto é decisivo, pois se aplico o esquema da geração à múltipla mobilidade das coisas, tenho já uma via para passar do patente ao latente. Em um de seus obscuros fragmentos, diz Heráclito que o caminho para cima e o caminho para baixo são um e o mesmo. Este caminho é o que se pode chamar propriamente método, uma via transitável pela qual se pode ir e vir. A isto os gregos denominaram physis, natureza. A natureza não é a rigor uma coisa, não é realidade alguma; é o nome de uma solução a um problema, de uma interpretação daquilo que encontro à minha volta. Compreendo então que as coisas brotam, nascem umas de outras: natura. Ao aplicar à realidade circundante, múltipla e móvel, o esquema da geração, a interpreto como natureza.
Ora, no fundo a geração coincide com a identidade. Dizer que há natureza é dizer que as coisas naturais, no fundo são o mesmo; e por haver identidade é possível a passagem de A a B e vice-versa. É este o grande pressuposto da interpretação.
Não é, porém, suficiente. Essa identidade se reveste, inicialmente, de uma forma temporal. O filho é, no fundo, o mesmo que foi o pai; é também, no fundo, o mesmo que serão seus filhos. Isto é, esse fundo, que é o que verdadeiramente há, é o mesmo que foi e que será: é o permanente, o que permanece através de toda a mudança. O permanente está subjacente em tudo o que passa: é o que já havia antes, o antigo. A natureza é essencialmente antiga, embora permanentemente renovada e jovem. Por isso os gregos a chamaram arkhé, princípio, isto é, o antigo. O princípio é o que já foram as coisas e por isso mesmo o serão; por via de identidade se pode chegar do princípio ao principiado e vice-versa.
Dessa maneira, a realidade latente, essa realidade que se revela no oráculo ou nas entranhas das vítimas sacrificadas, por mistério dos deuses, o homem agora a pode desvelar porque há uma via, um método por chegar até ela. Isto significa que o homem descobre um método para chegar por seus próprios pés a essa realidade e de lançar mão dela. O que se revelava obscuramente em um sinal é agora desvelado ou tornado manifesto pelo homem. A isto denominaram os gregos alethéia: patência, verdade.
Isto esclarece a expressão de Aristóteles quando se refere aos que “filosofaram acerca da verdade”, isto é, sobre a patência. Os que primeiro filosofaram, filosofaram acerca do que há verdadeiramente. Este método, que se opõem ao mito, é justamente a filosofia, a qual não tem um método, mas é um método. Esta maneira nova de pensar, que é rigorosamente, e diferindo de outros, conhecimento, parte do pressuposto ou da crença de que as coisas são, isto é, têm uma consistência, e que essa consistência é acessível e se pode chegar a ela mediante uma operação intelectual concreta, que é a que se chama, precisamente, conhecer. E a forma madura desta consistência é a natureza. É, porém, tudo isto suficiente para que haja filosofia?
Certamente não. Há modos de conhecimento que não são filosofia; por exemplo, a ciência, que se ocupa de estudar a consistência das coisas. É necessário, pois, algo mais para que se possa falar de filosofia na Grécia. E em primeiro lugar, o que impeliu o homem, um dia, à ideia de consistência das coisas e à necessidade de seu conhecimento? Quando um ingrediente de minha situação falha, seja porque desapareça ou se comporte de uma maneira insólita, com o que eu não “contava”, isto me põeipso facto em outra situação, e a respeito dela não sei a que me ater, isto é, caio na incerteza. Para sair desta insegurança tenho que me dar conta da segunda situação, e averiguar, portanto, o que aconteceu; mas isto envolve, por sua vez, uma pergunta prévia, que é a seguinte: como deve ser a coisa em questão para que lhe acontecesse isso?
Daí o assombro (thaumázein) ante as coisas, e consequente “não fazer nada” que Aristóteles sublinha no homem que, pasmo, contempla a realidade. O fato da coisa falhar torna impossível o projeto em relação a ela,e o homem não faz porque não sabe o que fazer. Considera-a então, nesse momento, de um novo ponto de vista: naquilo que tem de seu, em sua consistência. A este modo de conhecimento, provocado pelo falhar das coisas, podemos denominar ciência; porém não é ainda filosofia.
O fato de viver em uma circunstância de coisas patentes circundadas por um horizonte de latência de toda índole, faz com que minha vida tenha unidade e figura, e além disso, limites. Esse horizonte põe em questão, portanto, não a um ou outro dos ingredientes de minha vida, mas esta em sua totalidade. O horizonte de latência que orla a minha vida exige saber a que me ater em relação a totalidade da mesma, e postula um saber último e integral. Ora, não está dito que este saber tenha forçosamente que ser conhecimento; isto só acontece quando o homem se acha em uma situação tal, que para saber a que se ater significa conhecer a consistência das coisas, porque se encontra na crença fundamental de que as coisas têm uma consistência que o homem pode descobrir. A coincidência desta situação histórica com um saber último conduz à filosofia.
Isto explica, pelo menos até certo ponto, qual o verdadeiro âmbito histórico em que a filosofia foi possível. É preciso ter presentes, no entanto, dois fatos menos claros: o primeiro, que a ciência aparece na Grécia ao mesmo tempo que a filosofia; o segundo, o tom polêmico de todos os filósofos gregos da primeira hora, a oposição temática à opinião, à doxa, isto é, às interpretações vigentes da realidade. Porque não se trata tanto de descobrir ascoisas reais quanto a realidade das coisas, o que as coisas têm de realidade: somente a partir disso começou a haver filosofia na Grécia.
(Texto extraído de: Marías, Julián. Biografia da filosofia e idéia da metafísica. Tradução por Diva R. de Toledo Piza. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1966)
Arquipélago Filosófico, Vol. 1, No. 8 (2025), e-008
ISSN 3086-1136