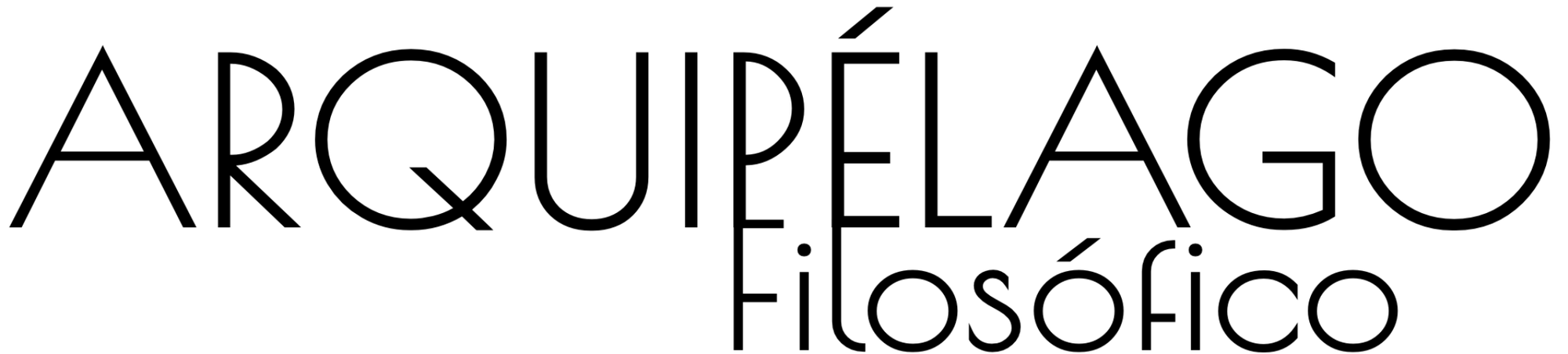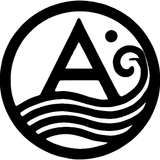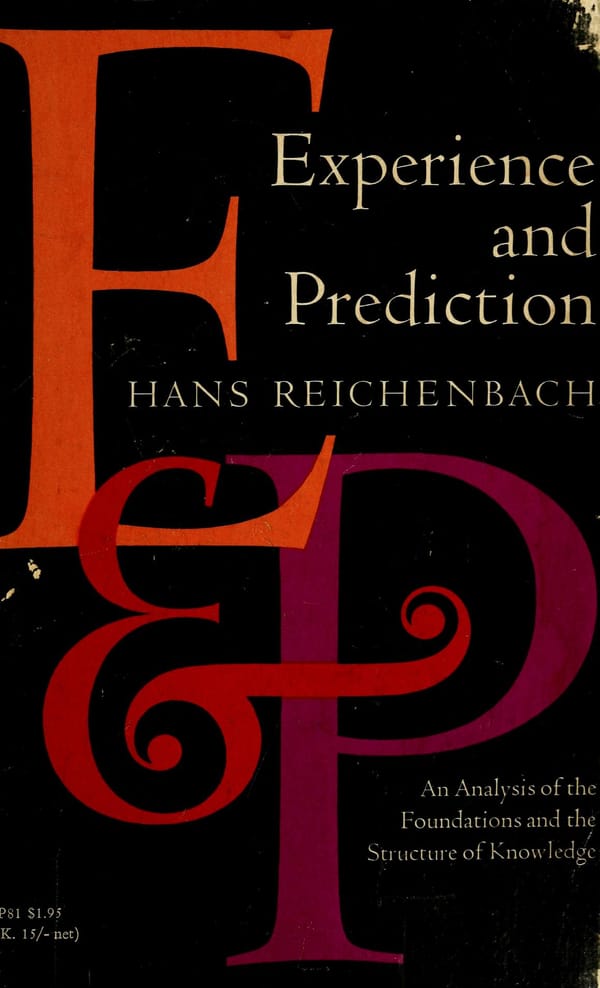Fernando Fleck, Sub specie aeternitatis
Um anjo surge agora neste anfiteatro e, já falando português, mas ainda pouco afeito ao nosso ponto de vista interno ao tempo e ao espaço, profere a seguinte frase: “Uma bomba explode no anfiteatro F no dia 17 de novembro de 1994, às 16h”.

Este texto apareceu originalmente na revista Questões Disputadas, vol. 1 (1995), p. 11-14. Fernando Pio de Almeida Fleck é professor aposentado do Departamento de Filosofia da UFRGS e autor do livro O problema dos futuros contingentes (Edipucrs, 1997).
Sub specie aeternitatis
Fernando Pio de Almeida Fleck (UFRGS)
(O texto que se segue é uma resposta ao argumento defendido por Rogério Severo em “Sobre a possibilidade de uma linguagem atemporal”, Questões Disputadas 0 (1994), p. 43-46, e foi apresentado, com pequenas diferenças, durante o fórum de debates, na sessão de 17 de novembro de 1994.)
Meu objetivo será reduzir ao absurdo o argumento contra a possibilidade de traduzir sem perda de uma linguagem temporal para uma linguagem atemporal, mostrando que se tal argumento fosse válido, provaria que também o que ninguém nega ser uma tradução sem perda não o seria.
Com o fim de tornar a exposição mais vívida, partirei de duas situações:
Primeira Situação:
Um anjo surge agora neste anfiteatro e, já falando português, mas ainda pouco afeito ao nosso ponto de vista interno ao tempo e ao espaço, profere a seguinte frase: “Uma bomba explode no anfiteatro F no dia 17 de novembro de 1994, às 16h”.
Tratando-se de uma reunião de filósofos, indivíduos distraídos desde seu primeiro ancestral, é possível que nem sequer tenhamos atentado a pormenores, tais como que anfiteatro é este, que dia é hoje e que horas são, ou mesmo em que ano nos encontramos, mais preocupados que estamos em saber o que é o tempo e mais interessados que nos tornaremos agora em determinar o sexo do anjo.
Um dos presentes, porém, provavelmente um filósofo mais prático, já entediado com a discussão que se travava antes da aparição do anjo, acabava de consultar seu relógio-calendário e imediatamente alerta os demais, ainda contemplativos: “Isto quer dizer que uma bomba vai explodir aqui dentro de cinco minutos!”, frase que, apesar das circunstâncias, exerce suas devidas funções ilocucionária e perlocucionária.
Segunda Situação:
Alguém entra neste anfiteatro e profere uma frase em uma língua desconhecida. Ficamos surpresos, mas inertes. Alguém, entretanto, reconhece que se trata de uma frase em albanês, idioma que estuda e de que tem, casualmente, a seu lado um dicionário. Consultando-o, avisa aos demais que a frase recém dita tem a seguinte tradução em português: “Uma bomba vai explodir nesta sala em cinco minutos”. Felizmente a consulta fora breve. A sala é em seguida completamente evacuada.
Comparemos as duas situações: Na primeira, temos uma “tradução” da linguagem atemporal para a linguagem temporal; na segunda, uma tradução de uma língua para outra. Em ambas as situações houve reações diferentes, se considerarmos em cada uma delas a primeira frase em relação à segunda. O que provocou a diferença foi, em ambos os casos, uma informação, externa à linguagem, que os ouvintes não possuíam, fornecida, no primeiro caso pelo relógio-calendário e, no segundo, pelo dicionário. Supondo que ninguém negaria que no segundo caso – o do albanês para o português – se trata de uma tradução genuína, não vejo por que negar que no primeiro se dê o mesmo, isto é, não vejo por que negar que a frase atemporal e a frase temporal sejam uma a “tradução” da outra.
Embora sejamos falantes natos do português, podemos, usando um dicionário, traduzir frases de outra língua para a nossa ou da nossa para outra. Analogamente, embora estejamos situados no tempo e no espaço, podemos, usando um relógio-calendário, traduzir frases de uma linguagem atemporal para a nossa linguagem temporal ou desta para aquela.
Podemos mesmo conceber um caso em que a suposta perda pareceria estar na linguagem temporal: Se estivéssemos situados fora do tempo e ouvíssemos dois indivíduos dizer “agora” (para nós “simultaneamente”, pois fora do tempo o temporal é apreendido como “simultâneo”), teríamos de consultar seus respectivos relógios-calendários (ou distintas partes espaçotemporais de um mesmo relógio) para sabermos a que instante cada um deles se refere, o que não seria necessário se eles se valessem diretamente de uma linguagem atemporal (dizendo, por exemplo, respectivamente “No dia 17 de novembro de 1994, às 16h” e “No dia 17 de novembro de 1994, às 16h05min”). Observe-se, assim, que uma linguagem não diz mais do que a outra absolutamente. As duas dizem o mesmo, e a necessidade de informação é relativa ao ponto de vista, assim como se pode dizer o mesmo em albanês e em português, e a necessidade de consulta a um dicionário, ou não, depende de nossa origem. É irrelevante que possamos acabar por dispensar o dicionário se aprendemos a outra língua., mas que não possamos dispensar o uso do relógio-calendário e falar apenas em linguagem atemporal. Abandonamos o relógio apenas quando é irrelevante o momento que ocupamos na série do tempo e podemos abstrair de tal momento: não quando agimos, mas quando contemplamos o mundo sub specie aeternitatis.
(O núcleo do argumento aqui apresentado provém de Nelson Goodman (The structure of appearance, c. XI, 2, p. 369, 370). Expondo o argumento oposto à sua concepção, após mencionar uma frase em linguagem temporal e sua versão atemporal, Goodman diz o seguinte:
“Já que – assim reza o argumento – reconhecemos a frase sem tempo verbal como uma tradução da frase com tempo verbal apenas à luz de conhecimento exterior, não temos absolutamente uma tradução genuína.”
Sua resposta é a seguinte:
“Isto, porém, não me parece mais cogente do que seria o argumento paralelo de que ‘L’Angleterre’ não seria uma tradução genuína de ‘England’, porque somente reconhecemos isto como uma tradução se sabemos que L’Anglaterre é England.”)
Arquipélago Filosófico, Vol. 1, No. 15 (2025), e-015
ISSN 3086-1136