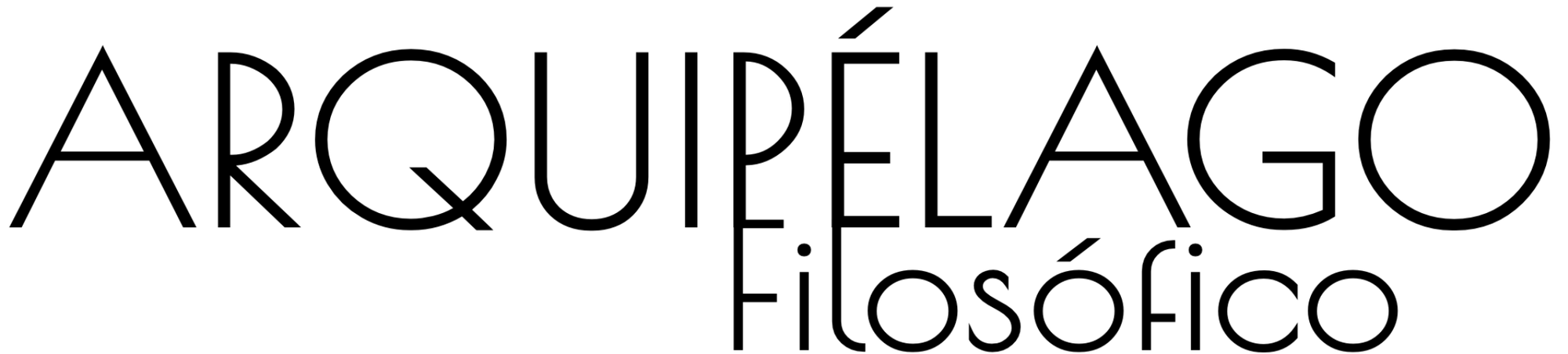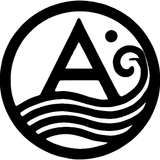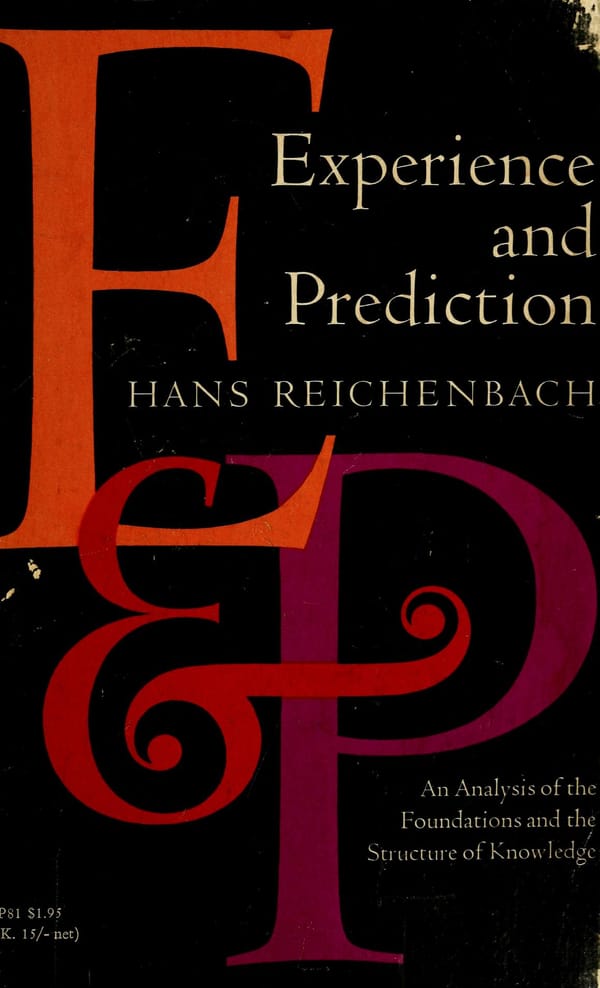Eros M. Carvalho, O velho e o novo problema da indução
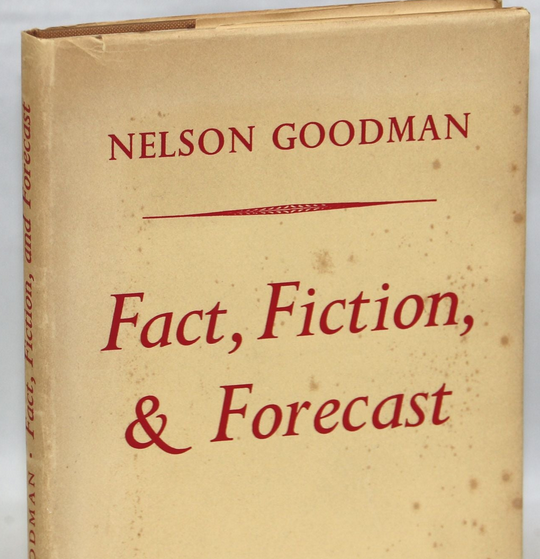
Neste texto introdutório, apresento de modo breve o que normalmente se entende pelo velho problema da indução e, em seguida, um pouco mais detidamente, o novo enigma da indução, acentuando as diferenças e semelhanças. O objetivo é oferecer uma introdução ao tema e material de apoio para uma aula sobre o assunto.
O velho e o novo problema da indução
Eros Moreira de Carvalho (UFRGS)
1 Os problemas de Hume e Goodman[1]
Hume investigou com muita atenção e olhar clínico como passamos de fatos ou observações presentes e passadas para fatos futuros ou de fatos observados para fatos não-observados. Enfatizo o "como", pois, conforme o entendemos, o problema se desdobra em dois, como de fato historicamente se desdobrou. Se nos alarmamos com o fato de talvez não sabermos como essa passagem é feita, de um modo que seja conducente à verdade, podemos vir a concluir que as crenças obtidas por raciocínio indutivo são infundadas. Se não sabemos como ligar os fatos observados aos fatos não-observados de um modo que estes sejam prováveis em relação àqueles, então quaisquer que sejam as conclusões obtidas sobre o não-observado, elas não serão legítimas. Isto constitui o problema da justificação da indução. Mas também podemos nos perguntar como, de fato, fazemos a passagem de fatos observados para não-observados, independentemente desta passagem ser conducente à verdade ou não. Isto constitui o problema da explicação ou da descrição da indução.
O problema que Goodman se coloca, na esteira de Hume, é o "de definir a diferença entre predições válidas e inválidas" ou legítimas e ilegítimas, mas não como algo distinto do problema de explicar e descrever a nossa prática indutiva. Para Goodman, o problema de justificar e o problema de descrever a indução estão intimamente relacionados. Goodman jamais encara a prática indutiva com olhares céticos. A prática indutiva passada precisa ser pressuposta se quisermos explicitar o critério por meio do qual distinguimos induções legítimas e ilegítimas. Esta é a tarefa filosófica que lhe interessa. E uma vez que o critério for explicitado, podemos utilizá-lo para aprimorar a prática indutiva futura. Assim, o problema da justificação da indução se relaciona ao da descrição na medida em que, para Goodman, o problema cético de fundar previamente toda a prática indutiva jamais se coloca.
Neste texto introdutório, apresento brevemente o que normalmente se entende pelo velho problema da indução e, em seguida, apresento um pouco mais detidamente, acentuando as diferenças e semelhanças, o novo enigma da indução.
2 O velho problema da indução
O termo "indução" raramente aparece na obra de Hume. No Tratado da Natureza Humana, por exemplo, há apenas duas ocorrências, e nenhuma na Investigação sobre o Entendimento Humano. Ele fala antes de "raciocínios ou inferências de causas e efeito". Não há dúvida, no entanto, de que o raciocínio indutivo é um dos seus temas centrais. O que precisa ficar claro é o tipo de raciocínio indutivo que lhe interessa. Embora Hume fale alguma coisa sobre os raciocínios analógicos (e praticamente nada acerca da inferência pela melhor explicação)[2], suas análises focam o que hoje entendemos como sendo induções por enumeração. Esse tipo de raciocínio indutivo pode ser expresso pela seguinte regra: "Se todos os Fs observados são Gs, então provavelmente todos os Fs são Gs". Tudo indica que Hume aceitaria também a versão estatística dessa regra.
Para obtermos conhecimento de questões de fato ainda não observadas, Hume alega que precisamos nos apoiar no conhecimento de relações de causa e efeito. Tomando um de seus exemplos, para saber que o pão que está sobre a minha mesa irá nutrir, o que ainda não foi observado, tenho de me apoiar no conhecimento da relação de causa e efeito entre algo ser um pão e ter o poder de nutrir. Precisamos, então, entender como obtemos o conhecimento das relações de causa e efeito. Hume rejeita que esse conhecimento seja obtido a priori. Hume alega que tal conhecimento se apoia na experiência mediante um passo semelhante ao da regra expressa acima. No entanto, pairam dúvidas sérias sobre se esse passo é legítimo (problema da justificação) ou sobre como efetivamente o realizamos (problema da descrição ou da explicação).
As relações de causa e efeito, sobre as quais repousam os nossos raciocínios sobre questões de fato, não são descobertas a priori. Se elas pudessem ser descobertas a priori, isto é, se elas pudessem ser apreendidas intuitivamente pela mera comparação entre as ideias que temos dos objetos, então esbarraríamos em uma contradição[3] ao pensar na ideia de um objeto e ao mesmo tempo na ideia de algum efeito diverso daquele que costumeiramente observamos se seguir da presença desse objeto. A razão para isto é bastante óbvia. Se houvesse uma conexão necessária entre a ideia do objeto e a ideia do efeito costumeiro, então, ao tentar associar um efeito diverso do costumeiro à ideia do objeto, a contradição entre esses efeitos relativamente à ideia do objeto seria evidente. Como não encontramos essa contradição, nem qualquer impossibilidade de concepção, a relação de causa e efeito foge do escopo de relações que podem ser determinadas pela mera contemplação e comparação de ideias. Além disso, como podemos conceber, sem gerar contradição, uma quantidade infindável de efeitos diversos daquele que costumeiramente observamos se seguir da presença do objeto em questão, ainda que viéssemos a crer no efeito correto ao dar preferência a uma dessas possíveis concepções, não obteríamos conhecimento desse modo. Na melhor das hipóteses, teríamos uma crença em uma conexão de causa e efeito acidentalmente verdadeira. Pior, seria misterioso entender como a razão poderia preferir uma dessas concepções do efeito em detrimento de todas as outras, uma vez que elas são iguais quanto à consistência com o objeto considerado. E assim Hume conclui, não sem se apoiar no princípio de que tudo que é concebível é possível[4], que "todo efeito é um acontecimento distinto da sua causa" (HUME, 2004, p. 59).
Tal conclusão serve de premissa para o argumento seguinte de Hume em favor da tese de que os raciocínios indutivos não estão fundamentados na razão ou em argumentos. Sempre que fazemos a passagem de "tais e tais objetos foram acompanhados de tais e tais efeitos" para "objetos semelhantes serão acompanhados de efeitos semelhantes" (HUME, 2004, p. 62) assumimos a uniformidade da natureza, isto é, assumimos que de causas semelhantes, seguir-se-ão efeitos semelhantes. Mas se tentarmos justificar esta suposição tácita, não encontraremos nenhum argumento que possa justificá-la. Se todo efeito é um acontecimento distinto da sua causa, então a priori não detectamos nenhuma contradição ao negar a uniformidade da natureza, ou seja, é logicamente possível que objetos semelhantes aos observados no passado sejam acompanhados de efeitos diversos daqueles que acompanharam os objetos observados no passado. E se tentássemos justificar esta suposição por um argumento indutivo, a própria suposição seria implicitamente uma premissa do argumento e, deste modo, cometeríamos uma petição de princípio. O velho problema da indução repousa assim sobre a possibilidade lógica de interrupção abrupta de qualquer regularidade até então observada. Caso se alegue que não temos nenhuma razão para pensar que tal interrupção efetivamente ocorrerá, o argumento de Hume acaba de mostrar que também não temos nenhuma razão para pensar que tal interrupção não ocorrerá. Na melhor das hipóteses, deveríamos suspender o juízo com respeito à uniformidade da natureza. Mas isto equivaleria também a suspender o juízo relativamente às conclusões indutivas.
Essa é uma leitura comum do argumento de Hume[5]. O ceticismo indutivo repousa sobre o ceticismo com respeito ao conhecimento de conexões causais necessárias. Não por acaso, como nos lembra Goodman (1983, p. 61), observamos toda uma indústria de tentativas de defesa do princípio da uniformidade a partir de Hume. A muitos, essa pareceu a única resposta possível ao ceticismo indutivo, ainda que, na maior parte das vezes, propôs-se defesas do princípio mais contestáveis do que as próprias conclusões indutivas obtidas com o apoio do princípio (GOODMAN, 1983, p. 62). Importa-nos aqui registrar o seguinte: essas tentativas procuraram garantir o princípio da uniformidade independentemente da prática indutiva ou de quaisquer conclusões obtidas indutivamente. Nenhum conhecimento de fundo indutivo foi relevado. Diante de olhares céticos, esta é uma atitude correta a ser adotada, pois afasta a acusação de petição de princípio.
Várias tentativas de solução/resposta ao problema da justificação da indução foram propostas. Destaco as seguintes: a justificação analítica (STRAWSON, 1952), a vindicação pragmática (REICHENBACH, 1938), (SALMON, 1974a), a justificação a priori (BONJOUR, 1998) e a eliminação da indução (POPPER, 1974).
3 O novo enigma da indução
O novo enigma da indução surge no contexto das teorias da confirmação, especialmente a teoria desenvolvida por Hempel na década de 40 (HEMPEL, 1945; HEMPEL, 1943). O objetivo de Hempel foi caracterizar por meios puramente formais a relação qualitativa[6] de confirmação entre enunciados; em especial, enunciados que expressam hipóteses científicas e enunciados que expressam observações e experimentos. A teoria é formal, pois pretende-se que a relação de confirmação entre um enunciado de hipótese e enunciados de observação possa ser caracterizada sem referência ao conteúdo da hipótese e dos enunciados de observação. As propriedades formais e sintáticas dos enunciados seriam suficientes para a definição da relação de confirmação.
A relação de confirmação nada mais é do que a relação de força indutiva embutida na indução por enumeração, mas, ao contrário desta última, descomprometida com a sugestão de um procedimento para formular/obter generalizações empíricas. Importa apenas investigar se relatos de observação confirmam ou refutam hipóteses científicas. Se a relação fosse caracterizada adequadamente, teríamos então a posse de um critério para determinar quando a evidência confirma uma hipótese e, portanto, a justifica e quando a refuta. A teoria da confirmação, justamente por ser formal, não é ainda uma teoria da crença racional ou da justificação, embora seja um componente fundamental para essa última. A teoria da confirmação visa definir apenas a relação de confirmação, mas não estipula ela mesma quais enunciados observacionais podem ser tomados como evidência disponível. Essa tarefa é delegada à teoria do conhecimento. Nesse sentido, a relação de confirmação é análoga à relação de consequência lógica. Bem caracterizada, ela nos permite decidir se uma hipótese é confirmada ou não em relação a um certo conjunto de enunciados observacionais, quer saibamos se eles são verdadeiros ou não.
Para os nossos propósitos, não é importante entrar nos detalhes da teoria. Tomemos a generalização "Todos os corvos são pretos", que, modernamente, seria lido como expressando o condicional: se x é corvo, então x é preto. Por ora, basta observar que essa generalização é confirmada por enunciados que expressam as suas instâncias positivas e refutada por uma instância negativa. Pelo critério de Nicod, uma instância negativa seria um corvo não-preto, isto é, algo que satisfaz o antecedente, mas não o consequente do condicional. Uma instância positiva seria um corvo preto, isto é, algo que satisfaz tanto a antecedente quanto o consequente da generalização. Coisas não-corvas, segundo o critério, seriam neutras, isto é, nem confirmam, nem infirmam a generalização em tela. Porém, o critério de Nicod, em conjunto com o princípio da Equivalência, nos levaria a concluir que qualquer coisa não-corvo também confirma essa generalização[7]. Esse resultado contra-intuitivo, antecipado pelo próprio Hempel, ficou conhecido como o "paradoxo"[8] dos corvos. Mas esse, diz Goodman, é um problema menor para a teoria da confirmação. Vejamos, então, em que consiste o novo enigma da indução.
Todas as esmeraldas observadas até agora são verdes, ou assim vamos supor. Assim, pelo princípio de Nicod, elas confirmam a hipótese:
H1: Todas as esmeraldas são verdes.
Mas a mesma evidência disponível poderia ser descrita de uma outra forma. Goodman forja o predicado "verzul" assim: algo é verzul se observado verde antes de t ou azul depois de t. Todas as esmeraldas observadas até agora são verzul, o que parece, então, confirmar a hipótese:
H2: Todas as esmeraldas são verzuis.
H1 e H2 geram previsões incompatíveis. Seja e uma esmeralda a ser observada depois de t. H1 prediz que e é verde. H2 prediz que e é azul. Não podemos conviver com predições incompatíveis e, portanto, não podemos aceitar que ambas as hipóteses sejam confirmadas pela evidência disponível. Contudo, a teoria da confirmação não discrimina entre H1 e H2 no que diz respeito à confirmação.
O que Goodman prova por esse argumento? Putnam sugere que Goodman provou que "a lógica indutiva não é formal no sentido em que a lógica dedutiva é" (PUTNAM, 1983, ix). A relação de confirmação não pode ser caracterizada apenas sintaticamente. De fato, uma regra como:
C: m/n dos Fs são Gs é confirmada por m/n dos Fs observados são Gs
mostra-se errônea diante do argumento de Goodman. Não há como caracterizar a relação de confirmação apenas por meio de recursos sintáticos, pois ela depende de termos não-lógicos; depende, na visão de Goodman, dos predicados utilizados na formulação de hipóteses e na descrição da base indutiva. Em outras palavras, se uma instância positiva de uma hipótese a confirma ou não depende dos predicados utilizados para formular a hipótese[9].
Um ponto importante e que não passou despercebido na literatura: a forma como o predicado "verzul" foi definido por Goodman não implica que, após o dia t, as esmeraldas mudem de cor. O primeiro disjunto não é "coisas verdes antes de t", mas "observado verde antes de t". Que importância tem isso? Alguma, já que a não-mudança de cor das esmeraldas observadas em t não falseia ou refuta H2, mas sim a observação de uma nova esmeralda verde. E se a nova esmeralda observada for azul, então mesmo que todas as esmeraldas observadas antes de t permaneçam verdes, a hipótese H2, dada a definição de "verzul" sugerida por Goodman, é novamente confirmada, enquanto H1 é falseada. Neste caso, o que descobriríamos é que as esmeraldas são mais variadas quanto à cor do que inicialmente supomos. Algo semelhante ocorreu com a generalização "todos os cisnes são brancos", confirmada e projetável até que se descobriram cisnes pretos na Austrália. Esse ponto é realmente importante para marcar a diferença entre o novo e o velho problema da indução. Se, em t, a cor das esmeraldas observadas mudasse de verde para azul, então teríamos aparentemente uma quebra abrupta de regularidade e pareceria que o novo problema da indução depende do antigo. Mas também não é falso dizer que a quebra abrupta de regularidades gera uma situação que é uma instância do novo problema, pois a regra C é cega para esta situação antes que a quebra de regularidade tenha ocorrido, levando-nos assim a tomar como confirmável uma hipótese que não deveria ser confirmável por suas instâncias positivas.
De qualquer modo, o problema novo não depende do antigo. Ainda que o princípio da uniformidade fosse vindicado e, assim, pudéssemos assegurar a existência de regularidades robustas, que persistem ao longo do tempo, a dificuldade colocada por Goodman permaneceria. Hipóteses em princípio indesejáveis e incompatíveis entre si são confirmadas pela mesma base de evidência. Além de H2, por exemplo, poderíamos ter confirmado também H3, "Todas as esmerosas são verzuis", em que "esmerosas" se aplica a esmeraldas examinadas antes de t e a rosas depois de t (GOODMAN, 1983, p. 74), e assim por diante. Dissemos que, em princípio, elas são indesejáveis, pois, como no caso de H2 e H3, elas não parecem capturar regularidades robustas. Não estamos dispostos a dizer que instâncias positivas de H2 e H3 as confirmam, ao contrário do que a aplicação de C nos levaria a dizer. A dificuldade, então, é ter um critério para distinguir hipóteses projetáveis, hipóteses que são confirmáveis por suas instâncias positivas, de hipóteses que não são projetáveis, ou, como diz Goodman, nosso problema agora é responder à questão: "quais hipóteses são confirmadas por suas instâncias positivas?" (1983, p. 81). E o problema é teoricamente grave por haver um número em princípio infinito de hipóteses como H2 e H3, e, principalmente, por ser possível confirmar a partir da mesma base de evidências hipóteses que nos levam a predições incompatíveis (1983, p. 75), como é o caso de H1 e H2. É por essa razão que a solução do antigo problema está longe de ser suficiente para a solução do novo problema, embora seja necessária.
Embora Goodman jamais tenha encarado seu paradoxo como suscitando um problema cético, há uma maneira de ver os dois problemas como tendo as mesmas consequências no que diz respeito ao ceticismo indutivo. Se a racionalidade da crença em conclusões indutivas particulares depende de se ter uma razão/evidência que elimine possibilidades contrárias à verdade da conclusão, então tanto o velho problema quanto o novo colocam uma dificuldade similar. O velho problema nos leva a considerar a possibilidade de que a regularidade expressa na conclusão indutiva possa ser interrompida a qualquer momento. O novo problema nos leva a considerar a possibilidade de que a regularidade expressa na conclusão indutiva ("Todas as esmeraldas são verdes") não seja mais sustentável do que outras regularidades em conflito com a primeira ("Todas as esmeraldas são verzuis"), mas igualmente compatíveis com a evidência disponível. Em qualquer caso, se a evidência disponível não elimina a possibilidade contrária considerada, então a crença em conclusões indutivas particulares é irracional.
Apesar desse uso cético do novo problema, Goodman jamais o empregou desta maneira. Goodman jamais pensou que a possibilidade contrária de que todas as esmeraldas são verzuis pudesse ameaçar a nossa crença de que todas as esmeraldas são verdes. Goodman encarou o seu problema como um problema teórico, o problema de explicar como distinguimos induções legítimas de ilegítimas[10].
4 Predicados bem e mal comportados
Assim como o velho problema da indução deu ensejo a toda uma indústria de artigos em defesa do princípio da uniformidade da natureza, o novo enigma da indução também deu ensejo a uma nova indústria de artigos em defesa de princípios para a distinção de predicados bem e mal comportados, isso é, predicados que podem e predicados que não podem compor generalizações projetáveis, ou ainda predicados que tornam ou não tornam as generalizações em que figuram confirmáveis por suas instâncias positivas. Com essa distinção em mãos, poderíamos restringir a aplicação da regra C e assim impedir a proliferação indiscriminada de hipóteses confirmáveis por suas instâncias positivas. É importante observar que essas soluções procuraram não se apoiar em qualquer conhecimento de fundo indutivo, evitando assim também a acusação de petição de princípio. A estratégia fundamental delas consistiu em argumentar que a mera compreensão do significado/intensão dos predicados seria suficiente para determinar se o predicado é bem ou mal comportado, pois bastaria detectar certas características ou propriedades destes predicados, tais como observacionalidade, não-posicionalidade e não-disjuntividade, para aferir se o predicado pode ou não compor generalizações projetáveis. Por supostamente dependerem apenas de conhecimento do significado/intensão dos predicados, estas soluções foram chamadas de semânticas [JEFFREY (1966), 285][11]. Aqueles que encararam o paradoxo de Goodman como tendo consequências céticas se interessaram por estas soluções. Se bem sucedidas, elas bloqueariam o ceticismo com respeito a nossa capacidade de discriminar induções legítimas de ilegítimas. O uso de predicados bem comportados na formulação de uma hipótese seria suficiente para justificar a sua pretensão de ser confirmável.
Para Carnap, por exemplo, apenas hipóteses formuladas a partir de predicados não-posicionais e qualitativos são confirmáveis por suas instâncias positivas, isto é, são projetáveis: "todas as propriedades puramente qualitativas são indutivamente projetáveis; talvez apenas estas sejam; certamente as propriedades puramente posicionais não são projetáveis" (CARNAP, 1947, p. 146). E predicados não-posicionais são aqueles que não fazem referência a um objeto, lugar ou tempo particulares. "Verzul" não é bem comportado, pois faz referência a um tempo particular, e, portanto, não pode compor uma hipótese que seja confirmável. "Verde", ao contrário, é bem comportado e pode compor hipóteses confirmáveis. Seguindo esta receita, teríamos, então, um procedimento decisivo para distinguir induções válidas/legítimas de inválidas. Propostas semelhantes foram feitas considerando não a posicionalidade, mas a disjuntividade e a observacionalidade (SALMON, 1974b).
A resposta de Goodman a este movimento de Carnap é que o caráter posicional ou não de um predicado é uma propriedade relacional, depende da linguagem a que ele pertence. Seja "azerde" definido como aquilo que é observado azul antes de t ou verde depois de t, numa linguagem em que "verzul" e "azerde" são tomados como primitivos, "verde" pode ser definido a partir deles: uma coisa é verde se observada antes de t e verzul ou depois de t e azerde. Nessa linguagem, "verde" é um predicado posicional e, portanto, segundo Carnap, seria não-comportado e não poderia compor generalizações confirmáveis. Porém, hipóteses formuladas com o predicado "verzul" seriam confirmáveis. Nenhum avanço foi obtido, já que H1 seria confirmável segundo a nossa linguagem habitual e H2 seria confirmável segundo essa linguagem hipotética. A explicação de por que não projetamos H2 não pode estar no caráter posicional de "verzul".
Considerações similares valem para a observacionalidade, já que o caráter observacional de um predicado é relativo também a uma capacidade cognitiva. Um predicado que é observacional para nós pode não ser para outras criaturas e vice-versa.
Uma outra razão para que as soluções semânticas não funcionem é que tanto encontramos predicados disjuntivos, posicionais e principalmente não-observacionais compondo generalizações que estamos dispostos a projetar na vida comum e na ciência quanto encontramos predicados perfeitamente qualitativos compondo generalizações que não estamos dispostos a projetar na vida comum e na ciência. Ou seja, as soluções semânticas esbarram na própria prática indutiva. "Toda ave ou réptil é...", "Toda pessoa com febre está com infecção, ou câncer, ou com...." são exemplos de generalizações baseadas em predicados disjuntivos que poderíamos perfeitamente encontrar na biologia e na medicina. "Alunos de ciências sociais nas universidades brasileiras tendem a ser marxistas" também é uma generalização projetável e baseada em um predicado posicional. Quanto à observacionalidade, como lembra Putnam no prefácio ao livro de Goodman (PUTNAM, 1983, xii), seria muito severo tomar apenas predicados observacionais como bem comportados, pois teríamos então a dificuldade de explicar as inferências indutivas feitas abundantemente na física e na química acerca do que não é observável.
Também encontramos exemplo do fenômeno inverso: predicados perfeitamente qualitativos que, no entanto, não estamos dispostos a utilizar na formulação de hipóteses confirmáveis. Em uma nota, Althan sugere o predicado "gracet": algo é gracet se e somente se ou tem menos de 99 faces e é verde, ou tem mais de 99 faces e é azul (1968, p. 257). Não precisamos consultar relógios, calendários ou regiões no espaço para saber se algo é gracet, basta observar a sua cor e forma. O predicado é, assim, perfeitamente qualitativo. Mas, como "verzul", não estamos dispostos a projetá-lo.
Assim, o caráter posicional, disjuntivo ou observacional de um predicado não resolve o novo enigma de Goodman. Como essas características são relativas a uma linguagem, o problema de Goodman pode ser colocado como uma questão sobre por que usamos certa linguagem (uma linguagem em que, por exemplo, "verde" é um predicado não-posicional, não-disjuntivo e observacional) e não outra para fazer predições. Além disso, esses critérios estão em conflito com a prática indutiva. Sem uma razão substancial para pensar que tais características dos predicados são guias confiáveis acerca das junturas da natureza, não seria prudente emendar a nossa prática indutiva em função destas características. E que haja esta conexão não é evidente. Tanto pior, nesse caso, para as soluções semânticas. Soma-se a isto ainda o fato de que tais soluções, se pretendem aplacar a ansiedade cética, teriam de estabelecer a conexão entre essas características dos predicados e a projetabilidade sem apelar para conhecimento empírico ou de índole indutiva.
Lembro novamente: para Goodman, o paradoxo das esmeraldas verzuis não é cético. Ele não usa esse paradoxo para colocar a nossa prática indutiva sob suspeita. No entanto, qualquer teoria da prática indutiva, qualquer teoria que vise apresentar um critério que explique como distinguimos induções legítimas de ilegítimas precisa dar conta do paradoxo, precisa explicar por que não projetamos "verzul". Assim, "verzul" não é uma ameaça à prática indutiva, mas é uma dificuldade que a teoria da indução, se almejamos alguma, precisa dar conta (GOODMAN, 1983, p. 80).
Várias tentativas de solução/resposta e mesmo dissolução do novo enigma da indução foram propostas. Destaco, entre as propostas de critério para distinguir predicados projetáveis de não-projetáveis, a do próprio Goodman (entrincheiramento) (1983) e a do Quine (espécies naturais) (1981), refinada por Kornblith (1995). Entre as tentativas de dissolução, destaco a da Mary Hesse (1969) e a da Judith Thomson (1966).
Referências
ALTHAM, J. E. J. A note on Goodman's paradox. The British Society for the Philosophy of Science, v. 19, n. 3, p. 257, 1968.
BONJOUR, L. In defense of pure reason. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
CARNAP, R. On the application of inductive logic. Philosophy and Phenomenological Research, v. 8, n. 1, p. 133-148, 1947.
CARVALHO, E. M. Goodman e o equilíbrio reflexivo. Veritas, v. 58, n. 3, p. 467, 2013.
CARVALHO, E. M. Goodman e o projeto de uma definição construtiva de "indução válida". Principia, v. 22, n. 3, p. 439--460, 2018.
GARRETT, D. Cognition and commitment in Hume's philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1997.
GOODMAN, N. Fact, fiction, and forecast. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983.
HEMPEL, C. Studies in the logic of confirmation (I.).. Mind, v. 54, n. 213, p. 1-26, 1945.
HEMPEL, C. G. A purely syntactical definition of confirmation. The Journal of Symbolic Logic, v. 8, n. 4, p. 122-143, 1943.
HESSE, M. Ramifications of 'grue'. The British journal for the philosophy of science, v. 20, n. 1, p. 13-25, 1969.
HUME, D. Investigações sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. São Paulo: UNESP, 2004.
JEFFREY, R. C. Goodman's query. Journal of Philosophy, v. 63, n. 11, p. 281-288, 1966.
KORNBLITH, H. Inductive inference and its natural ground. Cambridge, Mass.: MIT, 1995.
LOEB, L. E. Hume on stability, justification, and unphilosophical probability. Journal of the History of Philosophy, v. 33, n. 1, p. 101-132, 1995.
MONTEIRO, J. P. Hume e a epistemologia. São Paulo: UNESP, 2009.
OWEN, D. Hume's Reason. Oxford: Ohio University Press, 1999.
POPPER, K. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 1974.
PUTNAM, H. Foreword. In: GOODMAN, N. Fact, fiction and forecast. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983. p. vii-xvi.
QUINE, W. Espécies naturais. In: CIVITA, V. (Ed.). Coleção Os Pensadores: Quine, Strawson, Ryle e Austin. São Paulo: Abril Cultural, 1981. p. 185-199.
REICHENBACH, H. Experience and prediction: an analysis of the foundations and the structure of knowledge. 1961 ed. Chicago: University of Chicago Press, 1938.
SALMON, W. On pragmatic justification of induction. In: SWINBURNE, R. (Ed.). The justification of induction: Oxford readings in philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1974a.
SALMON, W. Russell on scientific inference. In: NAKHNIKIAN, G. (Ed.). Bertrand Russell's philosophy. New York: Barnes & Noble, 1974b.
STRAWSON, P. F. The 'justification' of induction. In: Introduction to logical theory. New York: Methuen & Co., 1952. p. 248-263.
THOMSON, J. J. Grue. The Journal of Philosophy, v. 63, n. 11, p. 289-309, 1966.
Agradeço ao colega Paulo Faria (UFRGS) pelos comentários e sugestões a uma primeira versão deste texto. ↩︎
Há, na verdade, disputa sobre se Hume aceitaria como legítimas as inferências pela melhor explicação, especialmente as verticais, que licenciam conclusões acerca do inobservável a partir de evidência relativa ao observável. Veja "A Teoria e o Inobservável" (MONTEIRO, 2009, p. 25-67). ↩︎
Esta formulação não é completamente adequada. Embora, nas Investigações, Hume afirme que a negação de uma questão de fato não gera contradição (HUME, 2004, p. 54), não podemos extrair daí a tese de que toda relação entre ideias, ao ser negada, gera uma contradição. Isto pode ser verdadeiro para as relações de quantidade. Mas a negação de um juízo de semelhança, o qual é baseado na intuição, e, portanto, determinado a priori, não gera em sentido estrito uma contradição. Porém, a sua impossibilidade é evidente para a mente, posto que ela não pode igualmente conceber a negação de uma relação de semelhanças entre ideias. Trata-se aqui da diferença entre ser impossível por ser contraditório e, por isso, inconcebível e ser impossível por ser meramente inconcebível. De qualquer modo, se a relação de causa e efeito fosse determinada intuitivamente, então, ou a mente se veria impossibilitada de conceber a sua negação, ou, ao negá-la, engendraria uma contradição. ↩︎
Também nomeado Princípio da Conceptibilidade. Veja Don Garrett (1997). Sem esse princípio, Hume poderia sustentar apenas a conclusão epistêmica mais fraca de que não podemos saber a priori se um efeito é ou não um acontecimento distinto da sua causa. ↩︎
Embora a origem do problema da justificação da indução seja geralmente atribuída a Hume (POPPER, 1974, p. 28), é disputável que Hume estivesse mais preocupado com o problema da justificação do que com o da explicação de como chegamos a ter crenças em relações causais, tendo, como pano de fundo para esta explicação, a teoria das ideias. Sobre este ponto, veja David Owen (1999, p. 114). Tanto Owen quanto Don Garrett (1997) sustentam que Hume está mais preocupado com o problema da psicologia cognitiva de explicar como inferimos indutivamente e, por isso, não há ceticismo indutivo em Hume. Loeb (1995) concorda com esse último ponto, mas por uma razão diferente: Hume avalia positivamente a nossa prática indutiva, sua preocupação não é apenas descritiva. ↩︎
A relação qualitativa deve ser distinguida das relações quantitativa e comparativa de confirmação. Uma porção de evidência está relacionada qualitativamente com uma hipótese se simplesmente a confirma ou infirma; está relacionada quantitativamente com uma hipótese se a confirma ou infirma em um grau determinado e está relacionada comparativamente com duas hipóteses se confirma uma mais do que confirma a outra, ou se confirma ambas igualmente. ↩︎
O princípio da Equivalência diz que o que confirma H também deve confirmar os enunciados logicamente equivalentes a H. Como um lápis vermelho é, pelo critério de Nicod, uma instância positiva de "Todas as coisas não-pretas são não-corvos" e esta generalização é logicamente equivalente a "Todos os corvos são pretos", então o lápis vermelho também deveria confirmar esta última generalização, o que contraria a assunção inicial do critério de Nicod. ↩︎
O próprio Hempel defende que se trata de uma ilusão de paradoxo, que objetos não-corvos, como um sapato vermelho e um gato preto, confirmam a generalização "Todos os corvos são pretos". Obviamente ele aceita o ônus de explicar por que temos a impressão de que objetos não-corvos não confirmam a generalização em tela. Quanto ao critério de Nicod, ele deve ser reformulado: as instâncias que eram então consideradas neutras, aquelas que não satisfazem o antecedente do condicional que expressa a hipótese, devem ser tomadas também como instâncias que confirmam a hipótese. ↩︎
Para uma discussão mais detalhada do projeto de Goodman no que diz respeito à definição da validade indutiva, veja (CARVALHO, 2018). ↩︎
Para uma discussão de como Goodman tenta dissolver o problema cético da indução, veja (CARVALHO, 2013). ↩︎
No caso específico dos predicados disjuntivos, a solução que recomenda a sua exclusão na formulação de hipóteses confirmáveis é chamada de sintática, já que o caráter disjuntivo de um predicado poderia ser determinado pelas suas propriedades formais apenas. Esse ponto é atacado por Goodman. Para ele, o caráter disjuntivo de um predicado é relativo a uma linguagem, não é uma propriedade formal ou absoluta de um predicado, como é evidenciado a seguir pelo seu exemplo de uma linguagem artificial em que "verde" é definido disjuntivamente a partir dos predicados "verzul" e "azerde", os quais, nessa linguagem, são predicados primitivos. ↩︎
O texto original de Nelson Goodman, em inglês, sobre o novo enigma da indução está disponível em acesso livre no Internet Archive, e pode também ser encontrado à venda na Amazon. Esse livro tem uma tradução para o português, mas a edição está esgotada.
Arquipélago Filosófico, Vol. 1, No. 10 (2025), e-010
ISSN 3086-1136