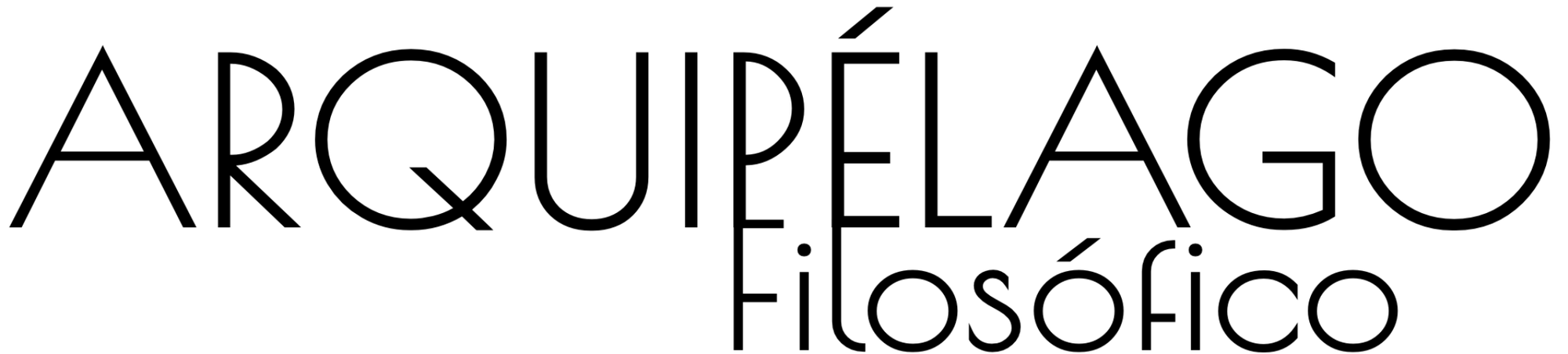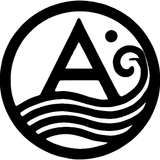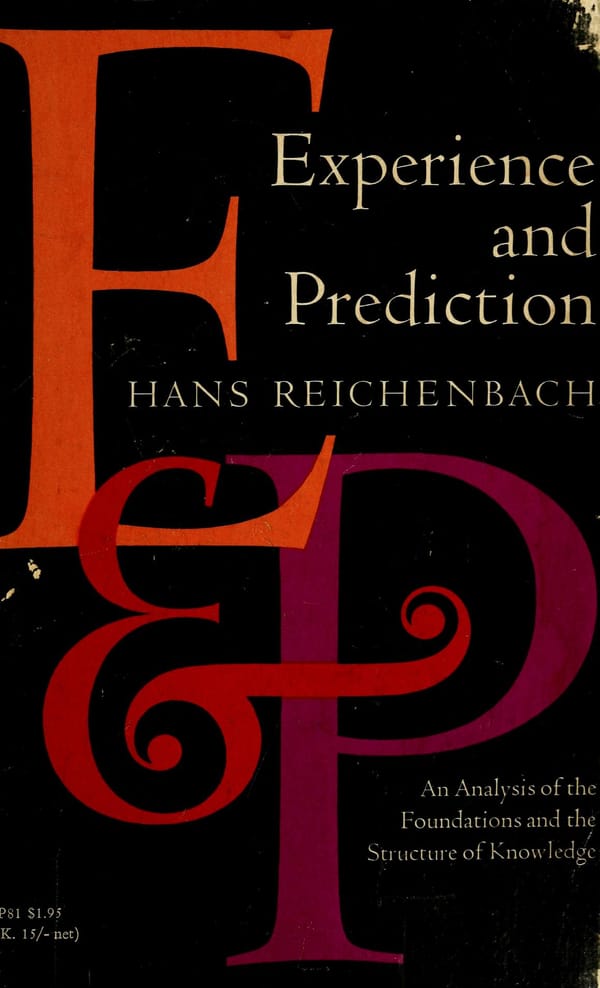Arthur Prior, Mudanças em eventos e mudanças em coisas

“Changes in events and changes in things” foi originalmente publicado pela Universidade de Kansas, em 1962, e republicado em 1968 na coletânea Papers on Time and Tense. Agradecemos ao Departamento de Filosofia da Universidade do Kansas por nos ter cedido gratuitamente os direitos para a publicação desta tradução. Arthur Norman Prior (1914-1969) nasceu e estudou na Nova Zelândia. Quando escreveu este artigo, era professor da Universidade de Manchester, na Inglaterra. Mais tarde, transferiu-se para a Universidade de Oxford, onde lecionou até o seu falecimento. É considerado um dos mais importantes lógicos e filósofos do tempo do século XX.
Mikael Abrão Bombassaro, o tradutor, é mestrando em Filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde estuda lógica e as contribuições de Prior para as para lógicas intensionais.
Mudanças em eventos e mudanças em coisas
Arthur Norman Prior
Tradução e notas de Mikael Abrão Bombassaro
A pergunta básica que desejo abordar nesta palestra é simplesmente a antiga pergunta: o tempo flui ou passa realmente? O problema, é claro, é que o genuíno fluir ou passar do tempo é algo que ocorre no tempo, e leva tempo para ocorrer. Se o tempo em si flui ou passa, não deve haver algum “supertempo” no qual ele ocorre? Além disso, o que quer que flui ou passa o faz em alguma velocidade, mas o fluir em uma velocidade é apenas a quantidade de movimento em um tempo dado; então como poderia haver uma velocidade do tempo em si mesmo? E se o tempo não flui em nenhuma velocidade, como, afinal, ele pode fluir?
Um primeiro passo natural para nos livrarmos dessas perplexidades é admitir que falar do fluir ou da passagem do tempo é somente uma metáfora. O tempo pode ser, como diz Isaac Watts, como um riacho sempre ondulante,[1] mas não é literal e realmente um riacho sempre ondulante. Mas de que modo ele é como um riacho sempre ondulante? Qual é a verdade literal por trás dessa metáfora? À primeira vista, a resposta para isso não é difícil. Geralmente, quando fazemos observações como “o tempo voa, não é mesmo? – ora, já estamos no dia 16”, queremos dizer que alguma data ou momento futuro pelo qual ansiávamos deixou de ser futuro e é agora presente, e está a caminho do passado. Ou talvez, mais fundamentalmente, algum evento futuro que antecipávamos com esperança ou pavor está agora finalmente ocorrendo, logo terá ocorrido e terá ocorrido há cada vez mais e mais tempo. Poderíamos dizer, por exemplo, “o tempo voa – eu já estou com 47 anos” – isto é, do meu nascimento já se passou esse tanto, “e logo eu devo ter 48 anos”, ou seja, será cada vez mais passado. Suponha que falemos sobre algo “se tornando mais passado” não somente quando se move de um passado comparativamente próximo para um passado comparativamente distante, mas também quando se move do presente para o passado, do futuro para o presente, e do futuro comparativamente distante para o futuro comparativamente próximo. Assim, o que quer que esteja acontecendo, tenha acontecido ou esteja por acontecer está o tempo todo “se tornando mais passado” nesse sentido amplo. É apenas isso o que queremos dizer ao falar do fluir ou do passar do tempo. E se tentarmos dar a medida desse fluir ou dessa passagem, isso é certamente muito simples – leva exatamente um ano para se ficar um ano mais velho, isto é, eventos se tornam mais passados à velocidade de um ano por ano, uma hora por hora, um segundo por segundo.
Isto elimina a dificuldade? Está longe de ser óbvio que a elimine. Não só porque uma hora por hora é uma espécie estranha de medida – esta estranheza, eu penso, tem sido exagerada, e vou dizer mais a esse respeito em breve – mas toda a ideia de eventos mudando é à primeira vista um pouco estranha, mesmo se abandonarmos a descrição reconhecidamente figurativa dessa mudança como um movimento. Em geral, a julgar pelo modo como comumente falamos, são as coisas que mudam, e eventos não mudam, mas acontecem. Cadeiras, mesas, cavalos, pessoas mudam – cadeiras se desgastam, depois são consertadas, mesas ficam sujas e depois limpas de novo, cavalos se cansam e depois descansam, pessoas aprendem algumas coisas e as esquecem, ou são felizes e depois ficam tristes, ativas e depois sonolentas, e assim por diante, e tudo isso são mudanças, e cadeiras, mesas, cavalos e pessoas são o que estou chamando de coisas, por oposição a eventos. Um acidente, uma coroação, uma morte, uma premiação, são exemplos do que chamaríamos de eventos, e de fato parece pouco natural descrevê-los como mudando – o que se passa com eles, alguém poderia estar inclinado a dizer, não é mudar, mas acontecer ou ocorrer.
Uma das coisas que nos torna propensos a negar que eventos sofrem mudanças é que eventos são mudanças – dizer que tal e tal evento ocorreu geralmente é dizer que alguma coisa, ou algumas coisas, mudaram de alguma forma. Dizer, por exemplo, que a aposentadoria de Sir Anthony Eden ocorreu em tal e tal ano é apenas dizer que Sir Anthony se aposentou e assim sofreu a mudança, ou as mudanças, que consiste na aposentadoria – ele havia sido primeiro-ministro, e depois deixou de ser primeiro-ministro. A aposentadoria de Sir Anthony é, ou foi, uma mudança concernente a Sir Anthony; dizer que ela própria muda, ou mudou, em si, soa estranho, porque soa estranho falar de uma mudança mudando.
Esta estranheza, no entanto, é superficial. Quando refletimos mais, percebemos que mudanças de fato mudam, especialmente se perduram por algum montante de tempo. (Nesse caso nós geralmente, ainda que nem sempre, chamamos a mudança de um processo ao invés de um evento, e há outras diferenças importantes entre eventos e processos além do tempo que eles tomam, mas essas diferenças não são relevantes para a presente discussão, de modo que vou ignorá-las e discutir mudanças de forma geral, sem diferenciar eventos e processos). Mudanças de fato mudam – um movimento, por exemplo, pode ser lento no início e depois rápido, uma premiação ou uma palestra pode ser aborrecida no início e depois interessante, ou vice-versa, e assim por diante. Não seria demais dizer que a ciência moderna começou quando as pessoas se acostumaram com a ideia de mudanças mudando, por exemplo, com a ideia da aceleração em contraste com o simples movimento. Não duvido que a medida usual de aceleração, tantos metros por segundo por segundo, soou estranha em seu primeiro uso, e penso que ainda soa estranha para a maioria dos estudantes quando se deparam com ela pela primeira vez. A linguagem ordinária ainda resiste a ela e, de fato, a toda expressão de algo como uma comparação de uma comparação. Aprendemos na escola que “mais maior”, por exemplo, é um erro de português, mas por que eu não poderia dizer que sou mais maior do que o meu filho do que ele em relação à minha filha?[2] E se tivermos aprendido a falar de uma aceleração de um metro por segundo por segundo sem imaginar que o segundo “segundo” deve ser de algum modo diferente de “segundo” em relação ao primeiro – sem imaginar que, se o movimento está no tempo ordinário, a aceleração deve estar em algum supertempo – não podemos nos acostumar igualmente com uma mudança de “um segundo por segundo” sem essa espécie de imaginação?
Mudanças de fato mudam, mas isso não deixa tudo perfeitamente simples e resolvido. Pois ainda há algo estranho na mudança que descrevemos figurativamente como o fluir ou o passar do tempo – a mudança de um evento de futuro para presente, e de presente para cada vez mais passado. Pois as outras mudanças em eventos que mencionei são as que ocorrem no evento enquanto ele está ocorrendo; por exemplo, se uma palestra se torna aborrecida ou um movimento se torna mais rápido, isso é algo que acontece enquanto o evento acontece; mas a mudança de passado para cada vez mais passado não acontece enquanto o evento está ocorrendo, porque sempre que um evento está ocorrendo ele não é passado, mas presente, e de fato a presentidade de um evento é somente o seu acontecer[3], o seu ocorrer, por contraste com meramente ter acontecido ou meramente estar por acontecer. Podemos colocar assim: as coisas que mudam são coisas existentes, e é enquanto existem que mudam, por exemplo, são homens existentes, e não homens inexistentes, que ficam cansados e depois se reanimam; Júlio César não está agora se cansando e depois se animando, a não ser que a doutrina da imortalidade seja verdadeira e ele exista agora tanto quanto existiu. E mudanças como a mudança na velocidade de um movimento são mudanças que similarmente ocorrem em eventos ou processos enquanto eles existem, isto é, enquanto existem no único sentido em que eventos e processos de fato existem, a saber, enquanto ocorrem. Mas tornar-se cada vez mais passado parece algo que ocorre a um evento enquanto ele não existe, e isso parece muito estranho mesmo.
Podemos retraçar nossos passos até este ponto olhando para alguma literatura sobre nosso tema. O professor C. D. Broad, no segundo volume de sua Examination of McTaggart's Philosophy, diz que a concepção ordinária de que um evento, digamos, a morte da Rainha Ana, está em um futuro indefinidamente distante, e então cada vez menos futuro, e então presente, e então se torna cada vez mais passado – essa concepção ordinária, diz Broad, não pode ser verdadeira porque toma a morte da Rainha Ana, ao mesmo tempo, como uma coisa meramente momentânea e como algo com uma história indefinidamente longa.[4] Podemos dar uma primeira resposta a isso distinguindo entre a história que um evento tem, e a porção de história que ele é. A porção de história que a morte da Rainha Ana é, ou foi, é uma porção muito, muito pequena, mas isso não impede que a história do evento seja indefinidamente longa. A morte da Rainha Ana é parte da história da Rainha Ana, e uma parte bem pequena dela; o que é longo não é essa parte da história da Rainha Ana, mas sim a história dessa parte da sua história – a história dessa parte da sua história é que primeiro ela foi futura, depois foi presente, e assim por diante, e isso pode ser uma longa história mesmo se o pedaço de história do qual essa história faz parte é bem curto. Não há, portanto, a contradição rasa que Broad sugere aqui.[5] Há, contudo, a dificuldade de que geralmente concebemos a história de uma coisa como a soma do que ela faz e do que lhe acontece enquanto ela está ali – quando ela deixa de ser, sua história acaba – e isso faz parecer estranho que haja uma história indefinidamente longa de algo que em si ocupa um tempo indefinidamente curto.
Mas se há aqui um quebra-cabeças genuíno, ele também diz respeito ao que de fato está acontecendo. Pois seja lá o que estiver acontecendo por qualquer período de tempo – e isso significa: seja lá o que estiver acontecendo – ele terá fases futuras e passadas, assim como a imediatamente presente; estar acontecendo é, de fato, a contínua passagem de uma fase após a outra, de ser futuro a ser presente, a ser passado. As reflexões de Agostinho, no décimo primeiro capítulo das suas Confissões, sobre a noção de um “tempo longo”, são relevantes aqui. Quando, ele pergunta, um longo tempo é longo? É longo quando é presente, ou quando é passado ou futuro? Não precisamos, penso eu, dar muita importância ao fato de que Agostinho se concentra em uma coisa tão abstrata como um “tempo” ou um intervalo; os seus problemas podem ser facilmente reapresentados em termos do que acontece durante um intervalo; de fato ele mesmo vai nessa direção e fala sobre a sua infância, um futuro amanhecer e assim por diante. Quando, podemos perguntar, um processo dura um longo tempo – enquanto está acontecendo, quando adiante de nós, ou quando acabou?
Agostinho é de início levado à concepção de que é quando é presente que um tempo é longo, pois somente o que é pode ser longo ou breve (parágrafo 18). Podemos dar a mesma resposta com processos – é quando estão acontecendo que estão acontecendo por um longo tempo. Mas, então, como Agostinho indica, há estas fases. Cem anos é um tempo longo, mas não é realmente todo presente de uma vez, e mesmo se tentarmos reduzir o presente a uma hora, “aquela uma hora passa em partículas voadoras”. “O presente não tem espaço” (20). Agostinho aparentemente nunca ouviu falar do “presente especioso”, mas mesmo que tivesse isso não teria ajudado muito – a maioria dos acontecimentos em que estamos interessados são mais longos que isso. Ele experimenta a hipótese de que o passado e o futuro, e eventos passados e futuros, em algum sentido, afinal, “são” – que existe algum “lugar secreto” onde eles existem o tempo todo, de onde eles vêm e para onde eles vão. Se não há tal lugar, então onde os que preveem o futuro e recordam o passado discernem estas coisas? “Não se pode ver aquilo que não é” (22).
Pois bem, Agostinho diz que não sabe nada acerca disso, mas uma coisa que sabe é que onde quer que “o tempo passado e o porvir” possam “estar”, “não estão lá como futuros ou passados, mas como presentes. Com efeito, se também fossem futuros, ainda não estariam lá, e, se fossem passados, não mais estariam lá. Portanto, onde quer que estejam o que quer que seja, não são senão presentes” (23). É claro que existem “traços” ou imagens presentes de coisas passadas em nossas memórias, e sinais e intenções presentes com base nos quais fazemos as nossas previsões futuras (23, 24), e às vezes Agostinho parece satisfeito com isso – passado, presente e futuro, ele diz, “existem na alma, de alguma maneira, e não os vejo em outro lugar” (26). Mas às vezes ele parece longe de estar contente com isso – aquilo que lembramos e antecipamos, ele diz, é diferente desses sinais, e não é presente (23, 24) – e, com certeza, poderíamos acrescentar, não está na alma.[6]
Agora é o momento de ser construtivo, e como preparação para isso eu devo me entregar ao que pode parecer uma digressão, sobre o tema da Gramática. Filósofos ingleses que visitam os Estados Unidos são sempre perguntados, mais cedo ou mais tarde, se são “analistas”. Eu não estou inteiramente certo de qual é a resposta no meu próprio caso, mas há uma outra palavra que o Professor Passmore[7] uma vez inventou para descrever alguns filósofos ingleses que são com frequência chamados de “analistas”, a saber, a palavra “gramaticista”, e isto é algo que eu não me importaria de modo algum de ser chamado. Não nego que existam problemas metafísicos genuínos, mas penso que você tem de falar sobre gramática, ao menos um pouquinho, para resolver a maioria deles. E, em particular, eu gostaria de sustentar que a maioria do presente grupo de problemas sobre tempo e mudança, embora não todos, repousam sobre o fato de que muitas expressões que parecem substantivos, isto é, nomes de objetos, não são realmente substantivos, mas verbos ocultos [concealed verbs], e muitas expressões que parecem verbos não são realmente verbos, mas conjunções ocultas [concealed conjunctions] e advérbios. Essa é uma simplificação ligeiramente excessiva, mas antes de podermos expor isso mais acuradamente, precisamos olhar mais de perto os verbos, conjunções e advérbios.
Vou supor que temos suficiente clareza, para nossos propósitos presentes, quanto ao que é um substantivo ou um nome, e o que é uma frase; e dadas essas noções, podemos definir um verbo ou um sintagma verbal [verb-phrase] como uma expressão que constrói uma frase a partir de um nome ou de nomes. Por exemplo, se você juntar o verbo “morreu” ao nome “Rainha Ana”, terá a frase “Rainha Ana morreu”, e se você juntar a expressão “é um coveiro” ao nome “James Bowels”, terá a frase “James Bowels é um coveiro”; isso é um sintagma verbal. Digo “a partir de um nome ou de nomes” porque alguns verbos precisam ter um objeto assim como um sujeito. Assim, se você colocar o verbo “ama” entre os nomes “Richard” e “Joan” você obtém a frase “Richard ama Joan”. Esse verbo constrói a frase a partir de dois nomes; e a expressão “é mais alto que” funcionaria de maneira semelhante. Os lógicos chamam os verbos e expressões verbais de “predicados”; “morreu” e “é um coveiro” seriam predicados monádicos [“one-place” predicates], e “ama” e “é mais alto que” são predicados diádicos [“two-place” predicates]. Também há expressões que constroem frases não a partir de nomes, mas a partir de outras frases. Se uma expressão constrói uma frase a partir de duas ou mais frases, trata-se de uma conjunção, ou de uma expressão equivalente a uma conjunção. Por exemplo, “ou –, ou –” funciona desse modo em “ou vai chover, ou vai nevar”. Se a expressão constrói uma frase a partir de uma outra frase, trata-se de um advérbio ou uma expressão adverbial [adverbial phrase], como “não” ou “não é o caso que”, ou “supostamente” ou “alega-se que”, ou “possivelmente” ou “é possível que”. Assim, anexando essas expressões a “está chovendo” obtemos as frases:
Não está chovendo;
Não é o caso que está chovendo;
Supostamente está chovendo;
Alega-se que está chovendo;
Possivelmente está chovendo;
É possível que esteja chovendo.
Uma diferença muito importante entre conjunções e advérbios, por um lado, e verbos, por outro, é que porque os primeiros constroem frases a partir de frases, isto é, o produto é a mesma espécie de coisa, podem ser usados de novo e de novo para construir frases cada vez mais complicadas, como “É supostamente possível que ele não venha”, que poderia ser articulado como:
Diz-se que (é possível que (não é o caso que (ele virá))).
Também se pode usar o mesmo advérbio duas vezes e obter coisas como a dupla negação, suposições supostas, e assim por diante. Verbos, porque não resultam no mesmo tipo de expressão com que começam, não podem ser justapostos dessa maneira. Tendo construído “A Rainha Ana morreu” com o verbo “morreu” a partir do nome “Rainha Ana”, você não pode fazer isso de novo – “A Rainha Ana morreu morreu” não é uma frase.
Indo agora para o nosso tema principal, quero sugerir que conjugar um verbo no passado ou no futuro é exatamente o mesmo tipo de coisa que adicionar um advérbio à frase. “Eu estava tomando o meu café da manhã” está relacionado com “eu estou tomando o meu café da manhã” exatamente do mesmo modo como “eu supostamente estou tomando o meu café da manhã” está relacionado com aquela frase, e é apenas um acidente histórico que geralmente formemos o tempo passado modificando o tempo presente, por exemplo, mudando “estou” para “estava”, em vez de introduzir um advérbio. Em uma linguagem racionalizada com construções uniformes para funções similares, poderíamos formar o tempo passado prefixando a uma dada frase a expressão “Foi o caso”, ou “Tem sido o caso” (dependendo de qual tipo de passado temos em vista), e o tempo futuro prefixando com “Será o caso”. Por exemplo, em vez de “estarei tomando o meu café da manhã”, poderíamos dizer
“Será o caso: estou tomando o meu café da manhã”,
E ao invés de “estava tomando o meu café da manhã”, poderíamos dizer
“Foi o caso: estou tomando o meu café da manhã”.
O mais próximo que chegamos disso no inglês ordinário é “Foi o caso: estava tomando o meu café da manhã”, mas essa é uma daquelas anomalias parecidas com a dupla negação enfática. A construção que estou esboçando encapsula a verdade por trás da sugestão de Agostinho do “lugar secreto” onde passado e futuro “estão”, e a sua insistência de que onde quer que eles estejam, não são como passado e futuro, mas como presentes. O passado não é o presente, mas é o passado presente, e o futuro não é o presente, mas é o futuro presente[8].
Há também, é claro, o passado futuro e o futuro passado. Pois essas expressões adverbiais, como outras expressões adverbiais, podem ser empregadas reiteradamente – as frases às quais elas são anexadas não precisam ser únicas; é suficiente que sejam frases, e podem ser frases que já contêm o que poderíamos chamar de advérbios temporais [tense-adverbs] dentro delas. Então, podemos ter uma construção como
“Será o caso: Tem sido o caso: estou tirando o meu casaco”,
ou, no inglês comum, “eu terei tirado o meu casaco”. Podemos, de forma similar, aplicar repetidamente advérbios temporais específicos[9], tais como “Foi o caso quarenta e oito anos atrás”. Por exemplo, poderíamos ter
“Será o caso daqui a sete meses: Foi o caso quarenta e oito anos atrás: estou nascendo”,
isto é, em sete meses será o meu aniversário de quarenta e oito anos.
Dizer que uma mudança ocorreu é dizer pelo menos o seguinte: que algo que foi o caso anteriormente não é o caso agora. Isto é, é ao menos dizer que para uma frase p nós temos
Foi o caso que p, e não é o caso que p.
Esta frase p pode ser tão complicada quanto você quiser, e pode conter em si mesma advérbios temporais [tense-adverbs], de modo que um exemplo da nossa fórmula seria
Foi o caso cinco meses atrás que (foi o caso há apenas quarenta e sete anos que (eu estou nascendo)), e não é o caso agora que (foi o caso há apenas quarenta e sete anos que (eu estou nascendo)),
isto é, eu não sou tão jovem quanto costumava ser. Essa última mudança, é claro, é precisamente um caso de recessão de eventos para o passado de que realmente estamos falando quando dizemos que o tempo flui ou passa, e a justaposição de referências temporais uma ao lado da outra, sem a sugestão de que as palavras de tempo [time-words] devem ser usadas em sentidos diferentes em cada nível, reflete simplesmente o fato de que expressões adverbiais são advérbios, não verbos.
Um aspecto importante a ser observado agora é que enquanto eu tenho falado de palavras – por exemplo, de advérbios e verbos – por um muito tempo, as frases que tenho usado como exemplos não têm sido sobre palavras, mas sobre o que quer que elas tratem[10]. Quando uma frase é formada a partir de outra frase ou outras frases por meio de um advérbio ou de uma conjunção, ela não é sobre estas outras frases, mas sobre o que quer que elas tratem. Por exemplo, a frase composta “ou usarei o meu boné, ou usarei a minha boina” não trata das frases “usarei o meu boné” e “usarei a minha boina”; como essas últimas, aquela trata de mim e do meu acessório de cabeça, ainda que a informação transmitida acerca deles seja menos definida do que o que qualquer delas transmitiria separadamente. Do mesmo modo, a frase “será o caso: estou extraindo o meu dente” não trata da frase “estou extraindo o meu dente”, mas de mim. Uma frase genuína sobre a frase “estou extraindo o meu dente” seria uma frase que afirmasse que contém cinco palavras e vinte e três letras, mas “será o caso: estou extraindo o meu dente”, isto é, “estarei extraindo o meu dente”, obviamente não é uma frase desse tipo.
Tampouco se trata de alguma entidade abstrata designada pela cláusula “que eu estou extraindo o meu dente”. Trata-se de mim e do meu dente, e de mais nada. O fato é que é difícil para a mente humana ir além da simples estrutura sujeito-predicado ou substantivo-verbo, e quando uma frase ou pensamento não tem essa estrutura, mas uma mais complexa, tentamos de várias maneiras encaixá-la no padrão sujeito-predicado. Assim, inventamos novos modos de discurso em que as frases subordinadas são substituídas por expressões-substantivas e as conjunções ou advérbios por verbos ou expressões-verbais. Por exemplo, em vez de dizer
(1) Se você tem laranjas na sua despensa, esteve no hortifrúti,
podemos dizer
(2) Você ter laranjas na sua despensa implica que você esteve no hortifrúti,
que parece ter a mesma forma que “Richard ama Joan”, exceto pelo fato de que “você ter laranjas na sua despensa” e “você tem ido ao hortifrúti” parecem nomear objetos mais abstratos que Richard e Joan, e implicar parece uma coisa mais abstrata que amar. Podemos nos livrar dessa sugestão se refletirmos que (2) nada mais é do que uma paráfrase de (1). Similarmente,
(3) Agora fazem seis anos desde que foi o caso: eu estou caindo de uma canoa.
Poderia ser reescrito como
(4) Minha queda da canoa recuou seis anos para o passado.
Isso sugere que algo chamado de evento, a minha queda da canoa, passou por uma atividade chamada “receder ao passado”, e além disso seguiu passando por essa atividade mesmo depois de ter deixado de existir, isto é, depois de ter deixado de acontecer. Mas é claro que (4) é apenas uma paráfrase de (3), e, como (3), não é sobre qualquer objeto além de mim e daquela canoa – não há nenhuma razão real para acreditar na existência, agora ou daqui a seis anos, de um outro objeto chamado “minha queda da canoa”.
O que estou sugerindo é que o que parece ser um discurso acerca de eventos é, na verdade, em última instância, um discurso sobre coisas, e o que parece ser um discurso sobre mudanças em eventos é, na verdade, um discurso um pouco mais complicado sobre mudanças nas coisas. Isso se aplica tanto às mudanças que dizemos que ocorrem em eventos quando estão acontecendo, como à mudança de velocidade de um movimento (“movimento” é uma façon de parler; há apenas o carro se movendo, que se move mais rapidamente do que antes), quanto às mudanças que dizemos ocorrer em eventos que não estão mais acontecendo, ou que ainda não aconteceram, por exemplo, meu nascimento está recedendo no passado (“nascimento” é uma façon de parler – há apenas eu nascendo, depois ficando mais velho).
No entanto, nem tudo é tão simples assim. Essa história funciona muito bem para mim, para meu nascimento e para a minha queda da canoa, mas e a Rainha Ana? A morte da Rainha Ana se tornar mais passada significa que a Rainha Ana mudou de ter morrido há 250 anos para ter morrido há 251 anos, ou seja, lá que período for? Que ela ainda “está envelhecendo”, embora em um sentido ligeiramente mais amplo? O problema com isso, é claro, é apenas que a Rainha Ana, agora, não existe, como tampouco sua morte. Há pelo menos duas maneiras diferentes de lidar com isso. Poderíamos, em primeiro lugar, dizer que a nossa afirmação é realmente sobre a Rainha Ana (apesar do fato de que ela “já não é”), e realmente é uma afirmação, ou pelo menos implica uma afirmação, da forma
Foi o caso que p, e agora não é o caso que p,
a saber,
Foi o caso que foi o caso há apenas 250 anos que a Rainha Ana está morrendo, e não é agora o caso que foi o caso há apenas 250 anos que a Rainha Ana está morrendo,
mas podemos adicionar que a afirmação não capta uma “mudança” em qualquer sentido natural dessa palavra, e certamente não uma mudança na Rainha Ana. Um registro genuíno de mudança, poderíamos dizer, não deve ser somente da forma indicada acima, mas deve atender a certas condições adicionais que poderíamos especificar de várias maneiras. E poderíamos dizer que embora o que está aqui registrado não seja uma mudança em sentido próprio, é como uma mudança ao ajustar-se à fórmula acima. O fluir do tempo, diríamos então, é meramente metafórico, não somente porque o que é entendido por isso não é um movimento genuíno, mas também porque o que é entendido por isso não é uma mudança genuína; mas a força da metáfora ainda pode ser explicada – usamos a metáfora porque o que chamamos fluir do tempo se ajusta à fórmula acima. Nessa concepção, pode ser que não apenas a recessão da morte da Rainha Ana, mas mesmo meu próprio envelhecimento não seja como uma mudança em sentido estrito, ainda que envelhecer seja normalmente acompanhado de mudanças genuínas, e a expressão é comumente estendida para cobrir o ganho de sabedoria, a calvície, e coisas assim.
Mas pode uma afirmação realmente ser sobre a Rainha Ana depois de ela ter deixado de ser? Não quero dogmatizar sobre isso, mas vale mencionar uma solução alternativa. Podemos parafrasear “A Rainha Ana morreu” como “Uma vez houve uma pessoa chamada Ana, que reinou na Inglaterra, etc., mas não há agora essa pessoa”. Essa solução explora uma distinção que podemos descrever como sendo entre fatos gerais e fatos individuais. Que alguém roubou meu lápis é um fato geral; que John Jones roubou o meu lápis, se isso é mesmo um fato, é um fato individual. Tem sido dito muitas vezes – por exemplo, foi dito pelos lógicos estoicos – que não há fatos gerais sem que haja fatos individuais correspondentes. Não pode ser o caso, por exemplo, que “alguém” tenha roubado o meu lápis, a menos que seja o caso que algum indivíduo específico – se não John Jones, alguma outra pessoa – o tenha roubado. E em casos desse tipo o princípio é muito plausível; de fato é obviamente verdadeiro. Eu li que alguns dos escolásticos descreveram o sujeito de frases como “alguém roubou o meu lápis” como um individuum vagum, mas obviamente isso é um arremedo – forçando as coisas, mais uma vez, em um padrão. Não há “indivíduos vagos”, e se um lápis foi de fato roubado, foi roubado não por um indivíduo vago, mas por um bem definido, ou por um número desses. Há afirmações vagas, entretanto, e pensamentos vagos, e a existência de tais afirmações e pensamentos é um fato sobre o mundo real como qualquer outro; e quando descrevemos o proferimento de tais afirmações e a construção de tais pensamentos, encontramos, ao menos parcialmente, fatos gerais aos quais nenhum fato totalmente individual corresponde. Se eu alego ou acredito que alguém roubou meu lápis, pode não haver um indivíduo específico acerca de quem eu alego ou acredito que roubou o meu lápis. Alega-se ou acredita-se que haja um indivíduo que roubou o lápis, mas não há indivíduo sobre o qual se alegada ou acreditada ter roubado o lápis (nem um indivíduo vago). Assim, embora seja um fato que eu alego ou acredito que alguém roubou o lápis, não há um fato da forma “eu alego (ou acredito) que X roubou isso”. O único fato que há é, sem dúvida, um fato individual no que concerne a mim, mas que é irredutivelmente geral no que concerne ao ladrão. (Pode de fato não haver ladrão – talvez eu esteja enganado sobre tudo isso – mas essa é uma outra questão; o nosso argumento é que pode não haver alguém de que se tenha sido dito ou pensado ser um ladrão, ainda que seja dito ou pensado que há um ladrão).
Voltando agora à Rainha Ana, o que estou sugerindo é que o tipo de coisa que inquestionavelmente temos em “é dito que” e “é pensado que”, também temos em “Será o caso” e “Foi o caso”. Foi o caso que alguém chamado Ana, que reinou na Inglaterra, etc., mesmo não havendo agora alguém de quem foi o caso que foi chamado de Ana, reinou na Inglaterra, etc. O que devemos ter cuidado aqui é simplesmente deixar os prefixos na ordem certa. Assim como:
(1) Eu penso que (para algum X específico (X roubou o meu lápis)) não implica
(2) Para algum X específico (eu penso que (X roubou o meu lápis)),
então
(3) Foi o caso (para algum X específico (X é chamado de Ana, reinou na Inglaterra, etc.))
não implica
(4) Para algum X específico, (isto foi o caso (X é chamado de Ana, reinou na Inglaterra, etc.)).
Nessa concepção, o fato de que a Rainha Ana está morta há alguns anos não é, no sentido estrito de “sobre”, um fato sobre a Rainha Ana; não é um fato sobre qualquer pessoa ou qualquer coisa – é um fato geral. Ou, se é sobre alguma coisa, não é sobre a Rainha Ana – é talvez sobre a Terra, que girou ao redor do sol tantas vezes desde que houve uma pessoa que se chamou “Ana”, reinou na Inglaterra, etc. (seria aqui um fato parcialmente geral – individual no que concerne à Terra, mas irredutivelmente geral no que concerne à rainha morta. Mas se há – como sem dúvida há – fatos irredutíveis e parcialmente gerais, não poderia haver fatos irredutíveis e totalmente gerais). Note-se, também, que o fato de que esse fato não é sobre a Rainha Ana não pode ser em si um fato sobre a Rainha Ana – sua afirmação precisa ser reformulada de alguma forma como “não há uma pessoa que foi chamada de “Ana”, etc., e sobre a qual é um fato que etc.”.
Nessa concepção, a recessão da morte da Rainha Ana para um passado mais distante é decididamente não uma mudança na Rainha Ana, não porque estamos usando “mudança” em um sentido tão estrito que não se trata de todo uma mudança, mas porque a Rainha Ana, ela mesma, não entra nessa recessão, ou melhor, agora, não entra em qualquer fato. Mas a recessão ainda é uma mudança ou quase-mudança no sentido de que cabe na fórmula “Foi o caso que p, mas não é agora o caso que p” – por um lado, essa fórmula continua a expressar o que é comum ao fluir literal de um rio (onde foi o caso que tais e tais gotas estavam em certo lugar, e isso não é mais o caso), e, por outro, o fluir do tempo.
REFERÊNCIAS DAS NOTAS
BOMBASSARO, M. A. “Santo Agostinho e o desenvolvimento da lógica temporal de Arthur Norman Prior”. In: CASTRO, D. S. et al*, XXIV Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS livro eletrônico: cinquentenário filosófico: filosofia antiga, medieval e moderna: vol. 1*. Porto Alegre: Editora Fundação Fênix, 2024.
FINDLAY, J. N. “Time: a treatment of some puzzles”, Australasian Journal of Psychology and Philosophy, v. 19, n. 3, pp. 216-235, 1941.
MCTAGGART, J. M. E. “The unreality of time”, Mind, New Series, v. 17, n. 68, pp. 457-474, outubro, 1908.
MCTAGGART, J. M. E. The nature of existence, Vol. II. Londres: Cambridge University Press, 1927. Internet Archive, Amzn
PRIOR, A. N. Time and modality. Oxford: Clarendon, 1957. Internet Archive, Amzn
PRIOR, A. N. Past, present and future. Londres: Oxford University Press, 1967. Internet Archive, Amzn
PRIOR, A. N. “The notion of the present”. In: FRASER, J. T.; HABER, F. C.; MUELLER, G. H. (eds.), The study of time: Proceedings of the First Conference of the International Society for the Study of Time Oberwolfach (Black Forest) – West Germany. Berlin: Springer Verlag, 1972. Internet Archive, Amzn
PRIOR, A. N. “Two essays on temporal realism”. In: COPELAND, B. J. (ed.), Logic and reality: essays on the legacy of Arthur Prior. New York: Oxford University Press, 1996. Internet Archive, Amzn
STEINER, T. N. “Arthur Prior and Augustine's alleged presentism”, Philosophies, v. 9, n. 162, outubro, 2024.
“Time, like an even-rolling stream, / Bears all its sons away (...)”, do hino O God, Our Help in Ages Past, de Isaac Watts. (N. T.) ↩︎
No original: “We are taught in school that “more older”, for example, is bad English, but why shouldn't I say that I am more older than my son than he is than my daughter?” (N. T.) ↩︎
Alguns anos depois, Prior desenvolveu melhor a concepção de presente pressuposta neste artigo. Trata-se de uma abordagem ontológica agostiniana sobre as coisas no tempo – uma concepção que entende realidade e presentidade como sinônimos, tendo em vista que tudo o que é real é presente, e tudo o que é presente é real. Esta tese ficou conhecida na literatura como “presentismo” (ver Prior, 1972). (N. T.) ↩︎
Esta é uma das críticas de Broad dirigidas à prova da irrealidade do tempo de McTaggart – prova que, grosso modo, procura defender que, por ser uma noção irremediavelmente contraditória, não existe tal coisa como o tempo, e a sensação que temos de mudança, e consequentemente da temporalidade, não passa de uma aparência enganosa (ver McTaggart, 1908; McTaggart, 1927, §§ 303-351). (N. T.) ↩︎
Prior – ao contrário de Broad – acredita na realidade da série A, assim como na sua primazia para a temporalidade. Série A e Série B são dois modos de entender posições no tempo distinguidos por McTaggart (1927, §§ 305-306). Na chamada série B, cada posição é anterior ou posterior a uma outra posição, em uma relação assimétrica e transitiva, em que as posições na linha do tempo são permanentes: se X é anterior a Y, então X é sempre anterior a Y, e, consequentemente, Y é sempre posterior a X. Na chamada série A, no entanto, cada posição é ou passada, ou presente ou futura, de forma que se um evento é presente, então será passado e foi futuro: as posições não são permanentes, pois os eventos estão sempre mudando, deixando de ser futuros, se tornando presentes e se tornando cada vez mais passados. (N. T.) ↩︎
A influência das perplexidades de Santo Agostinho de Hipona sobre o tempo foi impactante para a obra de Prior, sobretudo para o desenvolvimento dos operadores temporais da sua tense-logic. Uma pesquisa recente desenvolve essa relação (ver Steiner, 2024), traçando paralelos, e ressaltando diferenças, entre as concepções sobre o tempo defendidas por Santo Agostinho e por Prior. Quando li esse artigo, pareceu-me forçosa a distinção entre um “presentismo de Santo Agostinho” e um “presentismo de Prior”, apesar de os autores, de fato, basearem-se em metafísicas distintas no que tange a noção de existência. Na ocasião, apresentei as minhas ideias sobre isso no Cinquentenário do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e um texto relacionado foi publicado (ver Bombassaro, 2024). (N. T.) ↩︎
Trata-se de John Arthur Passmore, filósofo australiano. (N. T.) ↩︎
Esta é, ao meu ver, a metáfora de Santo Agostinho que inspira a semântica dos operadores temporais desenvolvidos por Prior. A ideia de um cálculo temporal, porém, é oriunda de Findlay, 1941 (ver Prior, 1967, pp. 8-10). (N. T.) ↩︎
Isto é o que Prior concebeu, desde os primórdios da construção de sua lógica temporal, como um trabalho de tornar mais precisos os operadores temporais a partir da quantificação de uma dada medida de tempo, que se torna um dos argumentos da função (ver [Prior, 1957, p. 11-12)]. Essa variação dos operadores temporais foi chamada pelo próprio Prior de “lógica temporal métrica” (uma introdução a esses operadores pode ser encontrada em Prior, 1967, pp. 95-112). (N. T.) ↩︎
Essa é uma posição importante da filosofia de Prior, que ressalta o primado da aplicação da lógica em relação ao formalismo. Nas próprias palavras de Prior, “[a lógica] não é primariamente sobre a linguagem, mas sobre o mundo real” (Prior, 1996). (N. T.) ↩︎
Arquipélago Filosófico, Vol. 1, No. 18 (2025), e-018
ISSN 3086-1136