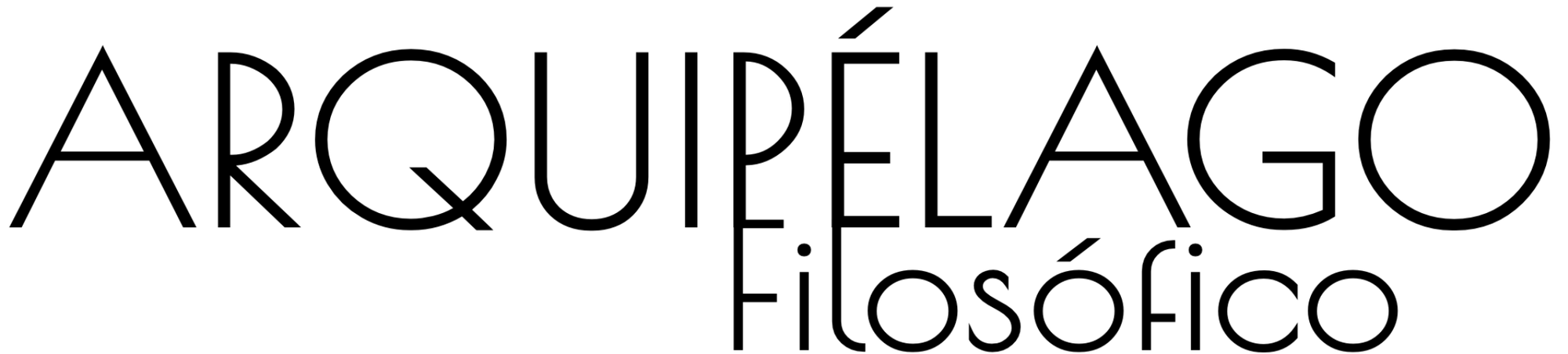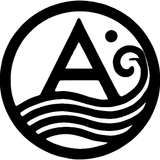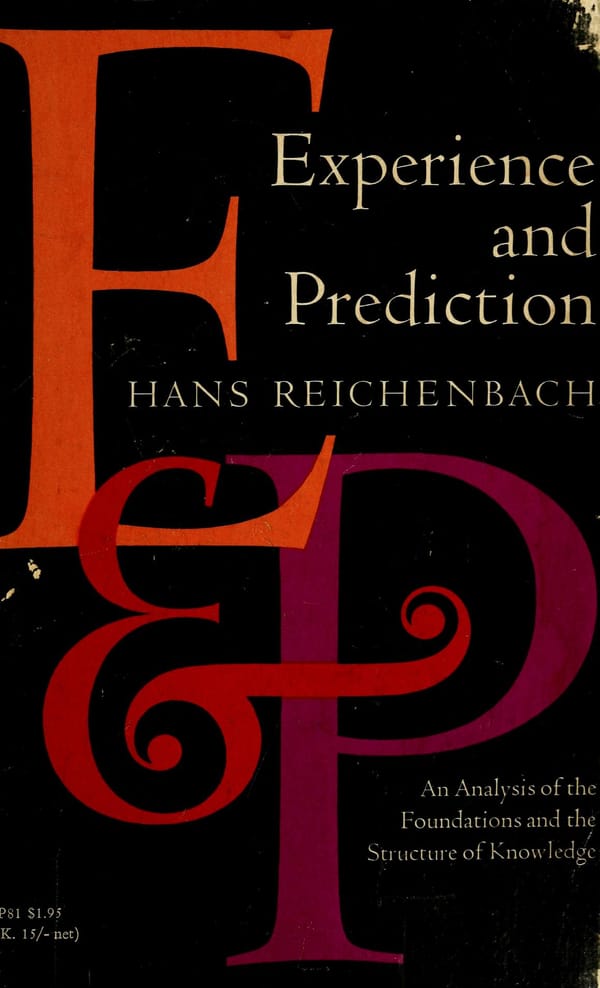Aristóteles, Metafísica Γ4
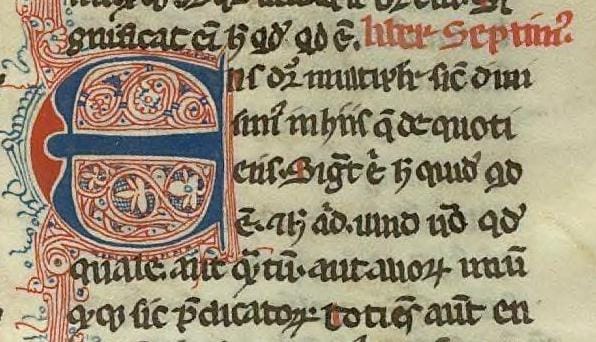
Tradução e notas por Raphael Zillig (UFRGS)
O texto a seguir contém a tradução de Metafísica Γ4, 1005b35 – 1007a20, na qual se encontra a porção principal da argumentação elaborada por Aristóteles em defesa do Princípio de Não Contradição (PNC). Com a exceção de algumas alterações marginais, a versão aqui publicada corresponde à tradução que integra a dissertação de mestrado Significação e não contradição – Um estudo sobre Metafísica Γ4, apresentada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2003.
O texto grego utilizado foi, sem nenhuma alteração, o estabelecido por Ross (1924). As principais traduções consultadas foram a francesa de Tricot (1953), a espanhola de Yebra (1990), as inglesas de Ross revisada por Barnes (1984) e de Kirwan (1993), a versão retrabalhada (1989) da tradução alemã de Bonitz (referida nas notas simplesmente como “tradução alemã”) e a brasileira de Angioni (2001).
..............................
Metafísica Γ4
1005b35-1006a5
Existem alguns que, segundo dissemos, afirmam eles próprios que é possível o mesmo ser e não ser e que é possível pensar assim. Também se utilizam desse modo de falar[1] muitos dos que tratam da natureza. Mas[2] nós acabamos de afirmar que é impossível simultaneamente ser e não ser e, através disso, mostramos que esse é o mais seguro de todos os princípios.
1006a5-11
Por desinstrução, alguns pedem, de fato[3], que também isso seja demonstrado. Pois é desinstrução não saber de quais coisas é necessário procurar demonstração e de quais não. É impossível haver demonstração de absolutamente tudo (a argumentação procederia ao infinito, de modo que nem assim haveria demonstração), e se, de algumas coisas não é necessário procurar demonstração, eles não seriam capazes de dizer quais julgam necessitar menos do que aquele princípio.
1006a11-18
Mas é possível demonstrar retorsivamente que isso é impossível, se apenas o oponente falar algo. Se falar nada, é risível tentar discutir[4] com quem não diz coisa alguma, enquanto ele nada disser. Pois tal sujeito, enquanto é assim, já é semelhante a um vegetal. Digo diferir a demonstração por retorsão da demonstração porque, demonstrando, opinariam que se está cometendo petição de princípio; sendo outro o responsável por tal coisa, haveria retorsão[5] e não demonstração.
1006a18- 24
Mas o princípio de[6] todos os argumentos dessa natureza não é pedir para dizer que algo é ou não é (pois isso alguém talvez suporia ser petição de princípio), mas ao menos[7] significar algo para si mesmo e para outrem. Pois isso é necessário, se ele ao menos[8] falar algo. Pois, se não, não seria possível o discurso a tal sujeito, nem dele consigo mesmo, nem com outrem.
1006a24- 28
E se alguém conceder isso, haverá demonstração: já haverá, pois, algo delimitado[9]. Mas o responsável não é o que demonstra, mas o que se submete. Pois, pretendendo[10] destruir o discurso, ele se submete ao discurso. Mais do que isso, o que concede isso concedeu que há algo verdadeiro sem demonstração, de modo que nem tudo seja assim e não assim.
1006a28- 34
Primeiramente, então, é evidente que isto, ao menos, é verdadeiro por si mesmo, que o nome[11] significa ser (ou não ser)[12] isto aqui, de modo que nem tudo é assim e não assim. Ainda, se “homem” tem um significado[13], seja[14] isso “animal bípede”. Denomino ter um significado isto: se “homem” é isto, se algo for homem, isto será “ser homem”[15].
1006a34- b5
Em nada difere se alguém disser que uma palavra tem muitos significados, contanto que sejam determinados, pois, para cada definição, poderia ser atribuído um nome diferente. Digo, por exemplo, se não fosse declarado que “homem” tem um significado, mas muitos, um dos quais tem uma definição, a saber, “animal bípede”, haveria também muitas outras definições, mas limitadas quanto ao número. Pois seria possível atribuir um nome particular a cada definição.
1006b5-11
Se não fosse possível, mas fosse dito que a palavra significa ilimitadamente, é evidente que não haveria discurso. Pois não ter um significado é nada significar, mas os nomes não significando, fica destruído o diálogo de uns com os outros e, na verdade, também consigo mesmo. Pois não é possível pensar nada sem pensar em um algo e, se é possível, pode-se atribuir um nome a essa coisa.
1006b11-18
Admitamos, pois, como foi dito no início, que o nome significa algo, isto é[16], que tem um significado. Não é possível que “ser homem” seja o que precisamente não é homem, se “homem” significa não apenas de um algo, mas também[17] tem um significado (pois não julgamos que “ter um significado” seja isto: “significar de um algo”, uma vez que assim “músico”, “branco” e “homem” teriam um significado, de modo que tudo seria um: tudo seria sinônimo, com efeito).
1006b18-25
E não serão ser e não ser o mesmo, senão por homonímia, como se o que nós denominamos “homem”, outros denominassem “não homem”. Mas a questão não é esta, se é possível o mesmo ser e não ser homem quanto ao nome, mas de fato. Mas se “homem” e “não homem” não têm significados diferentes, é evidente que também “não ser homem” não significará diferentemente de “ser homem”, de modo que ser homem será ser não homem. Serão um, com efeito.
1006b25-28
Pois isso significa “ser um”, como no caso de manto e capa, se a definição é uma. E se fossem um, “homem” e “não homem” significariam uma só coisa. Mas foi mostrado que têm significados diferentes.
1006b28-34
Se se diz com verdade algo, que é homem[18], é certamente necessário <dizer> que[19] é animal bípede (pois isso era o que significava o termo “homem”). E se isso é necessário, não é possível <dizer> que o mesmo não é animal bípede (pois isso é o que significa ser necessário, a saber, ser impossível não ser). Portanto, não é possível dizer verdadeira e simultaneamente que o mesmo é homem e não é homem.
1006b34-1007a8
E o mesmo argumento vale a respeito de “não ser homem”. “Ser homem” e “ser não- homem” têm significados diferentes, se também “ser branco” e “ser homem” os têm diferentes. Pois aqueles opõem-se muito mais, de modo que têm significados diferentes. E se disser que também “ser branco” e “ser homem” têm um significado, novamente diremos exatamente o que já foi dito anteriormente, que tudo seria um e não só os opostos. Se isso não é possível, segue-se o que foi dito, se o adversário responder o que é perguntado.
1007a8-20
Mas se, alguém perguntando simplesmente, ele adicionar também as negações, não responde à questão. Pois nada impede ser o mesmo homem e branco e inumeráveis outras coisas; mas, contudo, se alguém pergunta se se diz com verdade, ou não, isto ser homem, é necessário responder o que tem um significado e não adicionar que também é branco e grande. Pois, sendo infinitos os acidentes, é também impossível enumerá-los. Portanto, que ele os enumere todos ou nenhum. Da mesma forma, ainda que o mesmo seja dez mil vezes homem e não homem, não se deve responder ao que pergunta se isto é homem dizendo que é simultaneamente também não homem; se não, deve-se também adicionar todos os outros acidentes, tudo o que isto é ou não é. Mas, se ele fizer isso, não estará dialogando.
Referências bibliográficas
Edições e traduções completas ou parciais da Metafísica:
ANGIONI, L. (trad.). Aristóteles: Metafísica Livros IV e VI. [Textos Didáticos, n. 45] Campinas: IFCH/UNICAMP, 2001.
BONITZ, H. (trad.). Aristoteles' Metaphysik – Neuarbeitung der Übersetzung von Hermann Bonitz. Mit Einleitung und Kommentar herausgegeben von Horst Seidl. Griechischer Text in der Edition von Wilhelm Christ. 3 ed. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1989.
KIRWAN, C. (trad.). Aristotle Metaphysics Books Γ, Δ and E – Translated with notes by Christopher Kirwan. 2. ed. Oxford, Clarendon Press, 1993. [Internet Archive] [https://amzn.to/3SbiRZA]
ROSS, W. D. (ed.). Aristotle’s Metaphysics – A revised text with introduction and commentary by W. D. Ross. Oxford, Clarendon, 1924. [Internet Archive]
_____. (trad.). Metaphysics. In: BARNES, Jonathan. The complete works of Aristotle – The revised Oxford translation. Princeton: Princeton University Press, 1984. [Internet Archive] [https://amzn.to/4mpKnjF]
TRICOT, J. (trad.). La Métaphysique – Nouvelle édition etièrement refondue, avec commentaire par J. Tricot. Paris: Vrin, 1953.
YEBRA, V. G. (trad.). Metafísica de Aristóteles. 2. ed. revisada. Madrid: Editorial Gredos, 1990. [Internet Archive] [https://amzn.to/4k98NfY]
Edições de outras obras de Aristóteles:
MINIO-PALUELLO, L. (ed.). Aristotelis Categoriae et Liber De Interpretatione. Oxford: Clarendon Press, 1949. [https://amzn.to/4k91O6O]
Obras de outros autores clássicos:
ALEXANDER OF APHRODISIAS. On Aristotle Metaphysics 4. [trad. MADIGAN, A.] London: Duckworth, 1993. [Internet Archive] [https://amzn.to/4komWpe]
Outros trabalhos:
ANGIONI, L. “Princípio da não-contradição e semântica da predicação em Aristóteles”, Analytica, vol. 4, n. 2, p. 121-158, 1999.
_____. Ontologia e predicação em Aristóteles. Campinas: IFCH/UNICAMP, 2000.
BRUNSCHWIG, J. “Dialectique et philosophie chez Aristote, à nouveau”. In: CORDERO, Nestor L. Ontologie et dialogue. Paris: Vrin, 2000. [https://amzn.to/438J4OJ]
DENNISTON, J. D. The Greek particles. 2 ed. London: Duckworth, 1950. [Internet Archive] [https://amzn.to/43FYeLw]
LIDDELL, H. G.; SCOTT, R. An intermediate Greek-English lexicon – Founded upon the seventh edition of Liddell and Scott’s Greek-English lexicon. Oxford: Clarendon Press, 1997. [Internet Archive] [https://amzn.to/43EBKKK]
ZILLIG, R. Significação e Não Contradição – Um estudo sobre Metafísica Γ4. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003.
ZINGANO, M. A. “Notas sobre o princípio de não contradição em Aristóteles”, Cadernos de História e Filosofia da Ciência, vol. 13, n. 1, p. 7-32, 2003.
[1] Optei, para esta passagem, pela tradução mais vaga possível de λόγος. Mais adiante [1006a22-23], Aristóteles mostrará que, ao negar o PNC, o seu adversário fica excluído do âmbito do λόγος. Há, portanto, um sentido amplo do termo, que permite atribuí-lo ao adversário e um sentido restrito, que o não permite. Tomado nesta última acepção, satisfaz a condição de fazer sentido, enquanto na outra ele a satisfaz apenas aparentemente. Uma vez que “discurso” parece estar mais afeito ao segundo sentido do termo, convém reservá-lo para 1006a22-23. Angioni emprega “argumento” para a presente ocorrência de λόγος. Isso pode ser justificado a partir do sentido amplo de “argumento”, que engloba inclusive falácias e sofismas (essa opção é coerente com a leitura de Angioni, que inicia a reconstrução de Γ4 a partir da resposta a um sofisma – ver Angioni, 1999). Evitei essa alternativa porque não há em Γ4, até o momento, a expressão de uma defesa argumentativa da negação do PNC, mas apenas uma menção a pessoas que parecem sustentar a opinião segundo a qual o princípio é falso.
[2]Ao contrário da imensa maioria dos δέ em Γ4, que expressa continuidade ou adversão de modo tão sutil que sobrecarregariam o texto se traduzidos para o português, o δέ neste primeiro parágrafo apresenta uma oposição forte, que vale a pena reter na tradução. Aristóteles apresenta o PNC em Γ3 como um princípio a respeito do qual é impossível estar enganado [1005b11-12] e Γ4, no entanto, inicia-se com a constatação (que parece estar presente já em 1005b23-25) de haver quem, de fato, sustente precisamente o oposto do que é expresso pelo PNC. Ora, essa é uma tensão nada pequena, entre a aceitação do princípio como o mais seguro de todos e a constatação de existir quem o negue. Além disso, essa oposição consiste na principal razão de ser de Γ4, cujo projeto (defender o mais seguro dos princípios) seria um completo desatino se ela não se houvesse estabelecido.
O primeiro δέ, em 1005a35, já indica a oposição apresentando a constatação a respeito dos refratários ao princípio, enquanto o δέ de 1006a3 reforça a mesma oposição reintroduzindo o que fora aceito quanto à segurança do PNC. Uma vez que seria excessivo traduzir duas ocorrências de uma mesma partícula visando apresentar os dois termos de uma só oposição, parece mais interessante reter apenas a segunda. Isso evita iniciar o texto em português de forma fragmentada, a partir de uma conjunção adversativa.
[3] O comentário de Denniston a respeito do emprego do δή enfático com verbos vem bem a calhar e soa quase sarcástico neste contexto: “A ênfase aduzida por δή com verbos é, na maior parte das vezes, patética quanto ao tom e está particularmente à vontade nas grandes crises do drama, sobretudo em momentos nos quais a morte ou a ruína está presente ou é iminente, embora seu uso não seja confinado a tais momentos.” (1950: p. 214; minha tradução a partir do inglês). Aqui δή ocorre junto do verbo ἀξιόω, que denomina o ato de pedir uma demonstração do princípio. Embora a ênfase, neste caso, seja evidentemente intelectual e não emocional, as palavras de Denniston ajudam a fornecer a verdadeira dimensão do erro cometido: depois dele, a ruína e o desastre são iminentes.
[4] A ambiguidade do termo λόγος causa dificuldades em mais de uma passagem (cf.1006a26). Aqui, Angioni o traduz por “argumento”. Isso lhe permite uma construção bastante natural em português: “seria ridículo buscar argumentação contra quem não sustenta nenhum argumento”. A maioria dos tradutores, porém, opta por uma tradução menos restritiva, o que é interessante para manter o tom de generalidade que convém ao início desse texto. Creio que o fundamental do argumento é dar vazão às regras naturais do discurso e da discussão. Resolvi, assim, traduzir “λόγος πρός + acusativo” por “discutir com” (de forma semelhante a Tricot e Yebra), embora isso torne impossível apresentar uma tradução unificada para as ocorrências do termo na passagem. Para manter o mesmo grau de generalidade na segunda ocorrência de λόγος, empreguei o verbo “dizer” (seguindo novamente os tradutores francês e espanhol). Kirwan (1993: p. 92) entende ser possível que Aristóteles, nesta passagem, esteja jogando com a diversidade de sentido do termo, sugerindo que a segunda ocorrência pode ser compreendida como “ter uma definição”. Pretendo evitar essa sugestão mostrando que se obtém algo determinado (como é afirmado em 1006a25) apenas pedindo que o oponente diga algo e não que forneça uma definição.
[5] Embora a tradução mais usual para ἔλεγχος seja “refutação”, ela não parece adequada ao contexto da defesa do PNC. Uma refutação, na medida em que visa excluir a posição contrária, supõe o próprio PNC. Para evitar essa dificuldade, há quem sugira simplesmente transliterar o termo grego (ver, por exemplo, Brunschwig, 2000: p 125). Preferi empregar o termo “retorsão” para designar a estratégia, já que ela opera uma torção no processo de demonstrar (ver Zillig 2003: seção 2). Traduzi também o advérbio derivado ἐλεγτικῶς, em 1006a12, de acordo com essa decisão.
[6] Angioni e Kirwan interpretam a preposição πρός regendo acusativo como denotando hostilidade e não relação, como os demais tradutores consultados. Nesse caso ἅπαντα τὰ τοιαῦτα diz respeito aos argumentos do adversário e não ao de Aristóteles (ver Angioni: “o princípio contra todos os argumentos desse tipo” [grifo meu]). Como o período imediatamente anterior apresenta a noção de prova por retorsão, ou seja, o tipo de argumentação adotado por Aristóteles, optei pela interpretação predominante, a que dá sentido relacional ao “πρός + ac.” e permite ligar o demonstrativo τοιαῦτα aos argumentos do tipo “por retorsão”.
[7] Zingano observa (2003: p. 20, n. 14) que a partícula γέ, nesta passagem, tem valor claramente limitativo. Isso mostra que a exigência inicial da prova é apenas dizer algo significativo.
[8] Angioni interpreta a oração εἴπερ λέγοι τι como expressando um presente conativo (ver 2000: p. 68) e, assim, a traduz por “se ele pretende dizer algo com sentido”. Embora possa parecer desnecessário deixar explícita a ideia de pretensão, já que dizer algo supõe a pretensão de fazê-lo, essa adição pode ser relevante no contexto da prova retorsiva (ver Zillig 2003: seção 7). Considero, no entanto, mais interessante tornar explícita a ideia expressa pelo sufixo -περ, que mostra quão limitada é a exigência feita ao adversário: se ele ao menos disser algo, isso é, sem que precisemos impor qualquer qualificação ao seu ato de dizer, será já possível o argumento de Aristóteles.
[9] A tradução usual de ὡρισμένον é “determinado”. Entendo que esse termo, em português, pode levar a crer que a prova se baseia na existência de algo determinado. Optei por “delimitado” por ser igualmente aceitável do ponto de vista da língua e filosoficamente mais preciso, uma vez que refere melhor a noção descomprometida de limitação.
[10] Angioni interpreta ἀναιρῶν como presente conativo (ver 2000: p. 69), da mesma forma como faz com o λέγοι de 1006a22. Neste caso, ao contrário daquele, optei por evidenciar a ideia de pretensão, já que a retorsão consiste em fazer o adversário submeter-se às regras da linguagem precisamente ao tentar destruí-la.
[11] Angioni pretende encontrar nessa sentença a enunciação da regra da “denominação predicativa”, o que permite, na sua interpretação, tomar 1006a28-30 como uma enunciação antecipada da condição de “significar de algo uno” (ou seja, de σημαίνειν ἕν). Essa identificação não é possível quando se compreende ὄνομα a partir do sentido técnico apresentado em Da Interpretação [16a19-20], como o menor elemento significativo do discurso. Afinal, a “denominação predicativa” é uma regra geral da predicação e não pode ser designada por um termo cujo sentido indica uma porção do discurso que pode ser anterior à formação de proposições. Assim, ele traduz ὄνομα por “designação” (1999) e “denominação” (2001).
[12] As traduções clássicas seguem Alexandre de Afrodísias, tomando a expressão τὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι como aposto de ὄνομα, o que equivale a considerá-la como sujeito da frase. Nesse caso, o sentido do texto deve ser: “isto, ao menos, é verdadeiro por si mesmo, que o nome ‘ser’ ou ‘não ser’ significa algo determinado”. A argumentação de Aristóteles, então, partiria da determinação de sentido da cópula.
Apesar da tradição dessa alternativa, Da Interpretação 16b22-5 (como nota Kirwan, 1993: p.93) parece fornecer uma boa razão para recusá-la, ao explicar que τὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι nada significa por si mesmo.
As traduções mais recentes tendem a adotar a opção que Ross (1924, ad loc.), embora não adote, indica como igualmente válida em relação à de Alexandre e tomam τὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι τοδί como objeto de σημαίνει. Nesse caso, a determinação expressa por τοδί é diretamente atribuída a ὄνομα. É, então, o nome (ou aquilo que se compreenda estar por ὄνομα) que é determinado e não a cópula.
[13] Sigo Ross na tradução de σημαίνει ἕν. Ao traduzir o verbo por “ter significado” e não simplesmente “significar”, obtenho um modo natural em português de traduzir o complemento ἕν sem necessitar adicionar outro complemento (“significar um algo”, ou “uma coisa”) potencialmente obscurecedor. Meu desejo é deixar claro que compreendo ἕν como dizendo respeito à limitação da significação e não da coisa designada pelo termo. Optei também por negritar o termo “um” para enfatizar que σημαίνει ἕν designa a condição específica de ter um significado delimitado e não a condição vaga de significar algo em geral.
[14] Em argumentos, o imperativo ἔστω pode exprimir uma concessão. Em outras passagens (1006b11, por exemplo), esse emprego é inequívoco e apenas releva que uma etapa superada do argumento deve ser admitida para o seu prosseguimento. Aqui, no entanto, ele é bastante revelador, evidenciando que “animal bípede” corresponde a um significado arbitrariamente atribuído ao termo “homem”. Isso indica que a argumentação se refere meramente à significação da palavra e não à essência da coisa. Para torná-lo claro, a tradução alemã precede “zweifüßiges Lebewesen” (“animal bípede”) da abreviatura “z.B.” (“por exemplo”). Não seria possível fornecer um exemplo tão artificial para a significação de “homem” se houvesse qualquer preocupação com as essências. Na verdade, assim definido, o termo “homem” tem apenas e tão somente o que o argumento necessita: a unidade de um significado, qualquer que seja a natureza deste.
[15] Entendo que τὸ ἀνθρώπῳ εἶναι, aqui, represente apenas e tão somente o significado convencional de um termo tomado ao acaso. Discordo que, neste caso, a estrutura, τὸ …εἶναι, com um nome no dativo ocupando a lacuna seja equivalente à expressão τὸ τὶ ἦν εἶναι (que designa a essência dos seres), como observa Tricot em nota à passagem. Essa interpretação levou o tradutor francês a verter a expressão em questão por “la quiddité d’homme”, no que é seguido por Yebra (e mesmo na tradução alemã houve uma opção semelhante: “so wird [...] sein Wesen, Mensch zu sein, hierin liegen”). Embora tal interpretação seja possível, acredito que adicionar à tradução um termo como “quididade” seja inserir no texto um comprometimento que, se existe, não está explícito. É, ademais, desnecessário carregar de tal forma a tradução. Angioni, por exemplo, adota uma solução mais sutil para a mesma leitura: “este algo será o ser homem” (1999: p. 126).
[16] Entendo este καί como explicativo e não simplesmente aditivo. Uma vez concedida a necessidade da significação em geral (σημαίνον τι), o argumento consistiu precisamente em mostrar que ela supõe a unidade e delimitação da significação (σημαίνον ἕν). Neste ponto essa dependência já está esclarecida e, portanto, dizer que um termo tem algum significado em geral é necessariamente dizer que ele tem um significado preciso.
[17] Normalmente se interpreta μὴ μόνον ...ἀλλὰ καί como apresentando em primeiro lugar (pelo μὴ μόνον) uma condição mais fraca (a de σημαίνειν καθ' ἑνός) que é, em seguida, contrastada (através de ἀλλὰ καί) com uma condição mais forte (de σημαίνειν ἕν). Na interpretação de Zingano, uma vez que σημαίνειν καθ' ἑνός é compreendida como designando a unidade da significação e a unidade do ser, essa ordem é invertida. Essa leitura não é impedida pelo texto se, como entende Zingano, μὴ μόνον ...ἀλλὰ καί pode ser vertido para “não tanto ...mas sobretudo” (ver 2003: p. 22, n. 16).
[18] É preciso resistir à tentação de identificar a estrutura gramatical da sentença τι (...) εἰπεῖν ὅτι ἄνθρωπος à que é apresentada por Liddell & Scott no vocábulo λέγω (C) I.2: λέγειν τινά τι. O resultado dessa interpretação muito corrente é a seguinte tradução: “dizer de algo que é homem”. Como observa Zingano (2003: p. 25, n. 20), Aristóteles deixou claro em 1006a18-21 que não se pode iniciar o argumento pedindo ao adversário que diga “algo é x” ou “algo não é x”, mas somente que diga algo com significado. A solução de Zingano é compreender ὅτι como aposto de τι, cumprindo a mesma função que a expressão “a saber”.
[19] Sigo aqui a sugestão de Zingano (2003: p. 25-26) e adiciono a expressão “dizer que” para evitar uma interpretação que encontra nesse texto uma passagem do dizer ao ser no estabelecimento da conclusão e que pode encontrar apoio nas traduções consagradas. Essa adição é, ademais, autorizada pela ocorrência de εἰπεῖν tanto na premissa do argumento, em 1006b29 (“se se diz com verdade algo, que é homem), quanto na expressão da conclusão em 1006b33 (“não é possível dizer verdadeira e simultaneamente”).
Raphael Zillig é professor do Departamento de Filosofia da UFRGS e um dos colaboradores do projeto Obras Completas de Aristóteles, disponível em obrasdearistoteles.net.
Arquipélago Filosófico, Vol. 1, No. 3 (2025), e-003
ISSN 3086-1136